Semana agitada, post atrasado. Hebe retornou terça passada (3/6) ao Rio, enquanto Martha prepara o fim do semestre letivo na UFF, que deve acabar antes do início da Copa do Mundo. Mas a conversa da semana já estava marcada pelos alunos de história da UFF, um debate na quarta (4/6), no auditório do ICHF, com mais três colegas do Departamento de História, pesquisadores da história social da escravidão no Brasil ou nas Américas, após uma exibição do premiado filme 12 anos de Escravidão, de Steve McQueen. A discussão foi quente.
O debate começou com a fala de Larissa Viana, professora da área de História da América, especializada na história da escravidão e do abolicionismo nos Estados Unidos. Em dez minutos esclarecedores, Larissa traçou o contexto do livro que deu origem ao filme, o relato de Salomon Northup, publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1853, no contexto de relatos de ex-escravos levados a público com o apoio do movimento abolicionista, e que se tornaram grandes sucessos, formatando um gênero literário. O quanto expectativas do movimento abolicionista do Norte e seu público interferiram no texto e na narrativa original de Salomon Northup é uma das questões clássicas específicas a este tipo de literatura. Porém, enquanto a maioria das narrativas de ex-escravos relatam histórias de cativos que escaparam do sul para a liberdade no Canadá ou no Norte do país, Northup narrava uma história diferente, e bem menos registrada – a da escravização de cidadãos negros livres do Norte, vendidos ilegalmente como escravos no Sul do país.
Em seguida, Verônica Secreto, também professora da área de história da América, abordou livro, filme e historiografia, revisitando as possibilidades de autonomia dos escravos nas sociedades escravistas e mapeando as licenças narrativas do filme em relação ao livro que lhe deu origem. Este último assunto tem sido recorrente entre os historiadores que discutiram o filme também nos Estados Unidos. Lá, em geral, o roteiro de John Ridley e a abordagem de Steve McQueen têm saído bem no teste. Mesmo as polêmicas são percebidas como positivas. Com a consultoria de Henry Louis Gates Jr, o filme sublinha, por exemplo, a importância do cristianismo para a justificativa da escravidão tanto para o “bom” quanto para o “mal” senhor, o que é correto historicamente e tem ressonância política específica para o espectador do século XXI. Os críticos não deixaram de assinalar, porém, que, ao fazê-lo, o filme opta também por uma abordagem assumidamente estereotipada dos personagens senhoriais. Especialmente o primeiro senhor tem no livro uma narrativa muito mais compreensiva do próprio Solomon.
Talvez a maior polêmica causada pelo filme entre historiadores diga respeito ao papel secundário da comunidade escrava no filme, que, porém, como salientou Veronica, não deixa de estar nele representada – especialmente na reconstituição cenográfica das cabanas, das atividades cotidianas e dos cantos de trabalho, bem como na importância da família para os cativos. O filme teve locação em três plantations da Lousiana, hoje abertas à visitação, uma delas bem próxima ao lugar real onde se deu a experiência de escravização de Northup.
Hebe falou em seguida. Considerou que o maior mérito do filme era antes que a fidelidade histórica ao livro ou às pesquisas sobre à época, o caráter épico da narrativa, que fazia de Solomon Northup um personagem negro universal, com o qual os espectadores se identificavam. Com esse recurso, o filme atualizou uma analogia clássica – a da plantation com o campo de concentração nazista e a da escravidão com o holocausto, evocando a abundante filmografia hollywoodiana sobre o tema. Nas palavras do diretor, Steve McQueen, “o livro nos encantou: a dimensão épica, o detalhamento, a aventura, o horror, a humanidade. Lia-se como um roteiro de cinema, pronto para ser filmado. Eu não podia acreditar que nunca ouvira falar nele. Pareceu-me tão importante quanto O diário de Anne Frank, só que publicado quase cem anos antes.”
Para Hebe, é a escravidão como questão moral, como crime contra a humanidade, em última instância, a questão central do filme. E apesar disso, ou por causa disso, ele toca em questões historiográficas importantes, pouco frequentadas até recentemente, e que estão sendo formuladas ou reformuladas, nos Estados Unidos e também no Brasil. Especialmente, a da extensão da prática da escravização ilegal no século XIX e a da generalização do argumento racial como justificativa para a escravidão – característica que se torna essencial à escravidão atlântica exatamente no período. É quando a instituição aparentemente entrava em crise do ponto de vista moral, com o advento do abolicionismo, que o racismo se tornou seu principal alicerce.
Jonis Freire, professor de História do Brasil, pontuou diversos trechos do filme em que, apesar da ênfase da narrativa na extrema violência da plantation, a agência escrava se fazia presente, de forma bastante semelhante ao que tem sido extensamente documentado pela historiografia sobre a experiência escrava no Brasil. Destacou, por exemplo, as fronteiras fluidas entre trabalhadores escravos e livres na cena em que Solomon negocia com Armsby, trabalhador branco em situação análoga à escravidão (empregado na colheita de algodão junto com os trabalhadores negros escravizados), a entrega de uma carta sua aos amigos de Nova York. Traído por Armsby, Solomon consegue convencer o proprietário da plantation que era Armsby, e não ele, quem estava mentindo, ainda que por um preço alto ao rasgar a carta que tentava escrever.
Solomon, nascido livre e alfabetizado, não compartilha, a princípio, os códigos das comunidades cativas nas quais se vê inserido. Muitas vezes funciona como elo e mediador entre elas e os senhores. Reduzido à escravidão pelas circunstâncias, entretanto, aproxima-se cada vez mais dos companheiros de infortúnio. Embora rápida, é especialmente emocionante a cena do funeral de um escravo, em que canta junto com os outros cativos o legendário Roll Jordan Roll.
Martha finalizou as intervenções, quando formulou a principal questão do debate que se seguiu. Como trabalhar o filme em sala de aula do ponto de visto da delicada questão das relações raciais no Brasil? Martha está entre os historiadores que sentiram falta de uma maior ênfase na força da comunidade escrava e no protagonismo negro na narrativa do filme. Como articular o filme com o ensino da história da escravidão, quando a presença desses elementos não é evidente? Tendo em vista a ênfase da narrativa na subserviência e na extrema violência a que os cativos estavam submetidos, qual o efeito do filme sobre a autoestima e a autoimagem de adolescentes e jovens negros? Seria semelhante à (danosa e unilateral) super exposição de imagens de Debret de negros escravizados torturados nos livros didáticos? Mesmo que professores não escolham discutir o filme em sala com adolescentes e jovens, o filme fatalmente terá chegado a eles, tendo em vista seu enorme sucesso de público, de forma que esta é uma questão importante a ser pensada e encaminhada.
A pergunta gerou múltiplas discussões e dividiu a plateia. As autoras desse blog ficaram em campos opostos, mas complementares. Hebe considerou que o filme foi produzido por um cineasta negro, um roteirista negro, com atores negros – e ganhou os maiores prêmios da indústria do cinema, inclusive o Oscar de melhor filme, roteiro adaptado e atriz coadjuvante e que isto o tornava qualitativamente diferente de uma imagem de Debret, do ponto de vista das relações raciais e da auto-estima de jovens e adolescentes negros brasileiros. Reiterou novamente que Solomon Northup está construído no filme como um personagem universal. O olhar do filme sobre a escravidão não é um olhar estrangeiro, mas um olhar que coloca o espectador, qualquer espectador, na experiência do escravizado.
Para Martha, uma audiência jovem e pouco informada pode muito facilmente projetar, nos personagens do filme, situações de racismo vividas ainda hoje, por alunos negros e brancos. Para ela, a informação sobre a ficha técnica do filme, basicamente negra, do diretor ao atores, não é algo que se possa presumir que todos os estudantes que viram o filme tenham acesso, e que deveria ser ressaltada pelo professor. Também o caráter secundário, no filme, das instituições de solidariedade escrava, especialmente o cristianismo negro, e da rica tradição cultural da comunidade cativa demandam uma ação sensível e delicada do professor em sala de aula, para que estes aspectos possam se tornar visíveis nas entrelinhas da narrativa. As intervenções dos debatedores sugeriram algumas das possibilidades dessa abordagem.
De todo modo, a própria realização do debate sugere que o sucesso estrondoso de 12 Anos de Escravidão pode ser uma ferramenta eficaz para falar do trauma que efetivamente a escravidão representa na vida brasileira. Trauma que está na base do racismo ainda vigente na nossa sociedade e que começa, finalmente, a ser enfrentado, pelas políticas de reparação e ações afirmativas recentemente implantadas em nosso país.
Aqui, o debate, no youtube! Parabéns e agradecimentos especiais a Nubia Aguilar.


















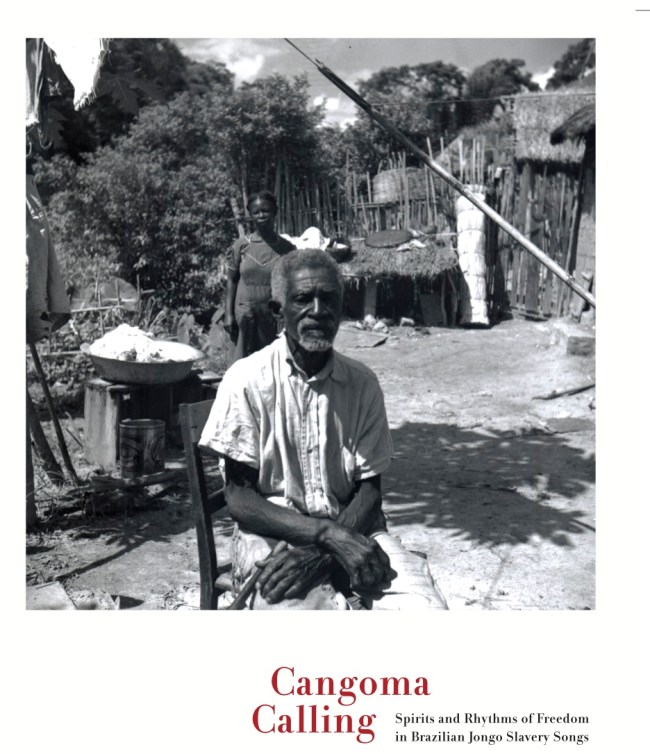

 Passados Presentes
Passados Presentes