Terminou ontem o mandato de Dilma Rousseff.

A vitória eleitoral da extrema direita se deve em grande parte à força dessa imagem. Para o machismo e a misoginia ainda predominantes em nossa sociedade, uma posse sem o gênero masculino no carro presidencial foi da ordem do intolerável. Mas não podemos esquecer que a posse da primeira mulher presidente do Brasil aconteceu, ainda que não a tenham deixado completar o segundo mandato. Assim como a do presidente operário que tirou o Brasil do mapa da fome. Resistir é também dever de memória.
Recupero aqui, como restrospectiva e forma de arquivamento, os artigos que publiquei na sessão de opinião da Folha de São Paulo, desde o golpe branco que destituiu a presidenta eleita. Aos que quiserem se aventurar, acredito que a leitura em sequência deles acrescenta algo à compreensão do processo que estamos vivendo.
Agora, é preciso dar tempo ao tempo. Mesmo que a vitória eleitoral da extrema direita seja, em grande parte, resultado de mais de dois anos de golpe, ainda assim o novo governo volta a ter a legitimidade das urnas. Apesar de ter, nas primeiras 24 horas, extinto a secretaria da diversidade e inclusão do MEC, passado a demarcação das terras quilombolas e indígenas para o Ministério da Agricultura e retirado os direitos da população LGBT da pauta dos direitos humanos, o novo presidente jurou respeitar a constituição. Que assim seja.
O blog sai de férias, como de hábito. Em março vamos avaliar se teremos fôlego para continuar as conversas.
publicado em 27/06/2016 02h00 (reproduzido sem alterações)
Em tempos de festa junina, Demétrio Magnoli acusa o movimento Historiadores Pela Democracia de “formação de quadrilha”, em texto publicado na Folha em 25/6.
O artigo começa com o meu nome, honrando-me com a companhia de renomadíssimos colegas de ofício que, estando no exterior, só puderam participar da iniciativa com depoimentos em vídeo ou por escrito.
Esses e outros depoimentos e vídeos podem ser consultados no tumblr “Historiadores pela Democracia”. Convido todos a fazerem isso.
Como não é historiador, Demétrio Magnoli não consultou tais documentos. Se o fez, omite isso, mas ainda assim afirma que nossa iniciativa “viola os princípios que regem o ofício do historiador”, que temos “vocação totalitária” e que queremos escrever versão da história útil para o “Partido”, com P maiúsculo.
Como já tive oportunidade de escrever no blog “Conversa de historiadoras”, sobre editorial de teor semelhante publicado no jornal “O Estado de S. Paulo”, a utilização desse tipo de lógica maniqueísta por órgãos de imprensa é surpreendente e muito preocupante.
Os depoimentos individuais foram feitos por alguns dos mais importantes historiadores do país, mas também por jovens profissionais e estudantes de história, englobando uma enorme diversidade de orientações políticas, bem como de escolas historiográficas e teóricas.
Juntos, formam uma narrativa polifônica e plural, que vem se somar ao alentado movimento da sociedade civil em defesa da Constituição de 1988 e de resistência ao governo interino, ao programa que tem desenvolvido sem o amparo das urnas e à forma como chegou ao poder.
Em comum, têm a preocupação com os sentidos republicanos e democráticos da ordem política brasileira, ameaçados desde a votação da Câmara dos Deputados de 17 de abril, de triste memória.
“A Força do Passado” é o título do arquivo de textos do tumblr, com exercícios de história imediata publicados ao longo dos últimos meses, que servirão de base para a organização de um livro.
A tese de que há um golpe branco em andamento, como reação conservadora às mudanças da sociedade brasileira produzidas desde a adoção da Constituição de 1988, é hipótese que defendo, junto a outros colegas e, por enquanto, inspirou o título da coletânea.
Para os que discordam que um golpe branco à democracia brasileira está em curso, basta escolher dialogar com alguns dos muitos e diferenciados argumentos dos depoimentos e textos arquivados no tumblr “Historiadores pela Democracia”. As autorias individuais estão bem assinaladas e os autores têm tradição democrática.
Por fim, para não parecer que só tenho discordância com o artigo de Magnoli, gostaria de me solidarizar com a sua defesa dos cinco jornalistas da “Gazeta do Povo” processados por juízes paranaenses.
Quanto ao título do seu artigo, não pretendemos processá-lo, e aqui falo pelos colegas citados. Temos certeza de que eram as festas juninas que Magnoli tinha em mente quando falou em formação de quadrilha.
Nós o convidamos a deixar de lado o maniqueísmo e o discurso de intolerância e a vir dançar conosco a quadrilha da democracia.
Publicado em 31/08/2016 02h00 (reproduzido sem alterações)
Em plena votação final do processo de impeachment no Senado, o livro “Historiadores pela Democracia: o Golpe de 2016 e a Força do Passado” vem a público, pela Alameda Editorial, organizado por mim, Tânia Bessone e Beatriz Mamigonian.
Escritos no calor do processo da atual crise política brasileira, os textos reunidos são um exercício de história imediata, organizados em ordem cronológica, a partir de uma proposta de periodização do processo político em curso, um dos campos mais clássicos de atuação do historiador profissional.
O livro é também uma resposta às críticas ao movimento Historiadores pela Democracia, veiculadas nas páginas de opinião de jornais e revistas e nas redes sociais após o lançamento do vídeo-manifesto do movimento.
Essas críticas, no que apresentavam de substantivo, são similares às formuladas a um movimento que surgiu pouco depois nos EUA, Historians Against Trump (historiadores contra Trump). Alegam que os autores poderiam se manifestar politicamente enquanto cidadãos, mas não como historiadores profissionais.
Aqui, como lá, tal juízo se estrutura a partir de uma visão antiquada e autoritária do ofício do historiador.
A historiografia contemporânea não supõe a construção de versões unívocas da história, mas um conhecimento sobre o passado que está sempre se transformando a partir da formulação de novas questões. É o rigor metodológico, com diversidade teórica e multiplicidade de abordagens, o que define nossa formação profissional.
No livro, a partir de um olhar historiográfico, os autores tomam por base problemas de pesquisa específicos para interpretar os acontecimentos políticos recentes. A força do legado do passado escravista, ainda atuante na sociedade brasileira, é a chave de algumas abordagens.
Uma discussão do campo de possibilidades em cada contexto analisado informa muitos dos textos. Se há algo que o conjunto reunido sugere é uma surpreendente e, na maioria das vezes, indesejada capacidade de previsão.
“Os Riscos do Vice-presidencialismo”, de 2009, de Luiz Felipe Alencastro, abre a narrativa do volume. Na sequência, os textos nos fazem reviver as eleições de 2014, a continuada contestação ao resultado eleitoral em 2015 e a força da cultura política da hipocrisia nos acontecimentos recentes.
No conjunto, os artigos constroem uma narrativa com final aberto do golpe institucional de 2016.
Os lançamentos em Brasília e em São Paulo, durante o simulacro de julgamento no Senado da presidente eleita, Dilma Rousseff, colocam o livro e seus autores também como atores da história, que, afinal, todos fazemos.
E continuaremos a fazer, em qualquer cenário futuro, em defesa da democracia e dos direitos inscritos na Constituição de 1988.
Publicado em 27/09/2016 02h00 (reproduzido sem alterações)
A crise política que vivemos é em parte tipicamente brasileira (ou latino-americana), com suas velhas elites sempre dispostas ao golpe contra a vontade política das maiorias, mas é também reflexo da crise global da democracia representativa. A discussão sobre os limites da legalidade democrática e o estado de exceção está na ordem do dia.
O uso do termo “estado de exceção” -inspirado no livro homônimo do filósofo Giorgio Agamben- para caracterizar a ordem de prisão decretada pelo juiz Sergio Moro contra o ex-ministro Guido Mantega causou celeuma entre alguns acadêmicos.
Como de hábito, não faltou quem lembrasse que a comoção com a prisão sem motivos claros, em um hospital em que ele acompanhava a mulher doente, seria exagerada. Pareceria sugerir que se inaugurava algo novo na Justiça brasileira, quando a prática seria de fato corriqueira nas periferias.
A afirmação é verdadeira e coloca em foco um limite fundamental da experiência democrática brasileira. Mas é também problemática, pois, levada às últimas consequências do ponto de vista lógico, acaba por tornar indistintas as fronteiras entre estado de exceção e Estado de Direito.
No limite, torna possível afirmar, por exemplo, não ter havido propriamente um golpe contra o regime democrático brasileiro em 1964, simplesmente porque não tínhamos um regime democrático na ocasião. Afinal, como poderia existir democracia de fato em um país em que os analfabetos não votavam e o Partido Comunista estava cassado?
Continuando com o mesmo raciocínio, também o Estado Novo não teria sido um golpe à ordem democrática, pois sob as Constituições de 1824, 1891 e 1934 havia fraude eleitoral, práticas de tortura, inúmeras rupturas políticas e restrições aos direitos de voto.
Uma baixa adesão aos valores democráticos é um pré-requisito contextual para qualquer golpe contra a democracia. As experiências democráticas concretas têm zonas de exceção mais ou menos amplas, delimitadas por fronteiras culturais e hierarquias socioeconômicas.
No Brasil, tais espaços de exceção continuam especialmente amplos e fortemente marcados pelo racismo. O Estado democrático de Direito é formado, entretanto, pela presunção da ilegalidade de tais práticas. Desvalorizar as fronteiras formais entre Estado de Direito e estado de exceção deslegitima a defesa dos direitos democráticos efetivamente existentes.
A democracia dos Estados Unidos conviveu com a legalidade da escravidão, seguida da segregação racial e depois do encarceramento negro em massa. Os Estados liberais europeus não têm história muito mais edificante. Isso não retira a importância dos valores democráticos na história dessas sociedades.
Como bem sinalizou a presidente eleita Dilma Rousseff, a divulgação ilegal de conversas da Presidência da República rompeu a fronteira entre Estado de Direito e estado de exceção, construindo as condições para o golpe parlamentar que a tirou do poder. A seletividade política crescente de membros do Judiciário brasileiro é mais um passo em direção ao abismo.
A tentativa de aprovação de uma reforma educacional profunda por medida provisória, também. A prisão de Mantega, abortada pela reação da opinião pública, era parte do processo. Ou damos os nomes aos bois agora ou em breve não poderemos mais gritar para saber onde está o Amarildo.
Publicado em 01/08/2017 02h00 (reproduzido sem alterações)
Em uma recente roda de conversa da qual participei no Centro Ruth Cardoso, em São Paulo, Marcelo Ridente nos fez a todos constatar que, pela primeira vez desde o final dos anos 1970, olhávamos com pessimismo para o futuro do Brasil.
Tentei me consolar da triste realidade refletindo sobre o caráter internacional da crise que vivemos, mas logo me lembrei de que o pessimismo à brasileira estava fundado em algo mais do que o sentido reacionário dos eventos sociais que estão na base da onda conservadora que assola o mundo.
O avanço reacionário no Brasil tem um travo mais amargo. Ele vem junto com a nostalgia de um ordenamento estamental de sociedade, inscrito sobretudo no desrespeito à soberania popular.
Um desrespeito naturalizado na velha formulação de que o povo não sabe votar, o que torna possível aprovar, sem qualquer constrangimento, um programa de reformas, em muitos aspectos inconstitucional e contrário a direitos humanos fundamentais dos quais o Brasil é signatário, derrotado nas urnas.
O avanço reacionário no Brasil está inscrito também, e principalmente, na dificuldade de nosso Judiciário, quase todo recrutado nas classes médias e altas tradicionais, em julgar de forma imparcial integrantes de seu grupo racial e social.
Nossas instituições jurídicas, ainda que funcionando livremente, não foram capazes de impedir o golpe parlamentar de 2016, perpetrado por congressistas quase todos acusados da prática de atos ilícitos.
Representantes das mais diferentes instâncias do Judiciário brasileiro podem condenar, sem provas concretas e a penas exorbitantes, jovens negros que ousam sair às ruas em manifestações políticas ou ex-operários que ousaram ser presidente da República e tirar o Brasil do mapa da fome.
No entanto, mantêm livres e exercendo mandato parlamentar, com base em noções aristocráticas de reputação e honra, senadores de famílias de elite denunciados pelo Ministério Público por corrupção passiva e obstrução à Justiça.
Golpes parlamentares podem derrubar presidentes de forma ilegítima; a Justiça pode legalmente produzir injustiças, mas nada é mais grave do que a perda de confiança nas instituições democráticas. Alguém ainda espera que o Congresso vá autorizar a investigação das gravíssimas denúncias contra Michel Temer? Sem esperança, não há democracia.
Desde a primeira eleição de Lula, em 2002, tem havido comparações de seu papel histórico no Brasil ao de Abraham Lincoln nos Estados Unidos.
Pode-se dizer, no mínimo, que a emergência política de ambos foi consequência das chamadas revoluções de mercado, ocorridas nos dois países nas décadas que precederam seus governos.
Lincoln e Lula buscaram aprofundar o que percebiam ser frutos positivos da generalização da economia de mercado, mas também tentaram democratizar os seus efeitos.
Lincoln nunca foi um abolicionista radical, Lula tampouco um socialista, como sempre registraram seus críticos à esquerda. Mas as sociedades estamentais que eles desafiaram não os puderam perdoar.
Como a velha elite sulista derrotada nos EUA, os golpistas brasileiros estão à procura de seu John Wilkes Booth. O medo às vezes mata a esperança. Sergio Moro se apresenta para o papel, trocando a pistola pela toga.
Publicado em 9.abr.2018 às 2h00 (reproduzido com pequenas atualizações)
Foi manchete nesta Folha: Lula é o primeiro presidente da República brasileiro condenado por crime comum. As fragilidades das acusações ao ex-presidente me parecem suficientes para fundamentar a convicção da perseguição política em qualquer observador imparcial. Mas, infelizmente, é um fato.
Esse fato revela o sentido mais profundo do golpe iniciado em 2016, processo sem direção política específica, resultado de um inusitado consenso elitista e antidemocrático envolvendo os principais formadores de opinião do Brasil.
Boa parte das convicções da Lava Jato, exemplificada sobretudo no famoso Powerpoint apresentado por alguns procuradores, está baseada em uma interpretação da história brasileira recente. Essa interpretação guarda inquietante analogia com um episódio da história dos Estados Unidos: o processo de desqualificação política da chamada reconstrução radical, após a guerra de secessão que aboliu a escravidão naquele país, um dos meus temas recentes de pesquisa.
Para os que não conhecem a história, eu conto. Nos EUA, no antigo sul escravista derrotado, o período conhecido como “Reconstrução Radical” (1865-1877) foi pioneiro em reconhecer direitos civis e políticos aos ex-cativos tornados livres com a vitória da União.
Muitos tiveram acesso à educação, participaram politicamente em seus locais de moradia, votando e sendo eleitos, junto aos políticos republicanos abolicionistas oriundos do norte do país. As conquistas sociais realizadas nesse curto espaço de tempo preenchem as melhores páginas da história social e política sobre o pós-emancipação estadunidense.
No entanto, o movimento foi, ao longo dos anos seguintes, totalmente desmoralizado, com base em denúncias seletivas de corrupção, a partir das quais se afirmava que toda a ação política dos negros sulistas e o idealismo republicano eram uma simples fachada para a ação criminosa de um grupo de aventureiros corruptos que enganavam libertos desinformados.
Tal interpretação foi celebrizada em um dos filmes pioneiros da indústria do cinema americano, “O Nascimento de Uma Nação” (Griffith, 1915), no qual os cavaleiros da Ku Klux Klan são os mocinhos da história. A estreia recente e polêmica de “O Mecanismo“, de José Padilha, na Netflix, com a mesma chave maniqueísta, me levou, mais uma vez, a me impressionar com os paralelos entre os dois processos.
A Constituição de 1988 foi o primeiro texto constitucional brasileiro a reconhecer o direito de voto universal e a pluralidade racial e cultural da sociedade brasileira.
O espetáculo de humilhação pública da prisão do ex-presidente operário por “crime comum” não afetou em nada a percepção da corrupção no país, que só faz aumentar, mas tem potencial para destruir a autoestima e a autoconfiança política de milhões de brasileiros.
A capacidade política de Lula de controlar a narrativa de sua própria prisão atenuou, pelo menos por algum tempo, esta possibilidade. O ataque aos ideais democráticos da Constituição de 1988, iniciado com o golpe parlamentar de 2016, sofreu ali um revés. Como sugeriu seu inspirado discurso, por mais longo que seja, o inverno não pode impedir a primavera.

Publicado em 30.set.2018 às 2h00 (reproduzido parcialmente)
A paranoia contra o inexistente “kit gay” (2011/2013) e a reação à PEC do serviço doméstico (2013), episódios do primeiro governo de Dilma Rousseff, foram sintomas pioneiros do movimento reativo –pois se trata do desejo de desfazer o que já está feito– que hoje toma forma concreta e assustadora na sociedade brasileira.
A reação à presença de uma mulher, só, no Palácio do Planalto, não ocupou lugar menor no processo, mas dois outros vetores reativos precipitaram a liberação dos demônios que, desde então, vieram do porão à luz.
O primeiro é o sentimento estamental, típico de sociedades pós-escravistas. Os antigos setores médios da sociedade brasileira continuam a aspirar por um estilo de vida quase colonial: com serviços domésticos baratos e acesso diferenciado à saúde e à educação.
Apesar de um salutar movimento de pressão pela melhoria do serviço público, a maior parte da “velha classe média” simplesmente não tolerou as consequências do sufrágio universal, sobretudo a ampliação da sociedade de mercado –que trouxe mais concorrência pelos melhores empregos e vagas nas universidades e tornou os serviços privados de qualidade cada vez mais elitizados.
O segundo vetor tem mais sintonia com o mundo globalizado. Milhões adentraram à economia de mercado na era Lula, fazendo emergir, na esfera pública, uma religiosidade militante e conservadora, que se vinha afirmando desde os anos 1980 no seio das classes populares economicamente ascendentes, com setores intolerantes e fundamentalistas.
Não se conformaram, sobretudo, com a afirmação de direitos para a comunidade LGBT, inclusive ao casamento e à adoção, com base na Constituição de 1988, que hoje ampara milhares de novas famílias legalmente constituídas.
A representação política desses dois mundos reativos é legítima como qualquer outra, mas sua junção nos abriu a porta do inferno quando deixamos romper-se o tênue equilíbrio de forças que a sabedoria do voto popular conseguira garantir. Na ópera-bufa da sessão parlamentar de 17 de abril de 2016, exibida em cadeia nacional de TV, o tema da corrupção política já tinha se tornado a cereja do bolo.
O cruzamento do ethos estamental com o ethos patriarcal, unindo velhas e novas classes médias, alavancou a falsa ideia de uma “ditadura do politicamente correto”, colocando em xeque a própria noção de direitos humanos.
A ascensão de uma candidatura simplesmente fascista junto a parte expressiva do eleitorado, capaz de colocar em risco a ordem democrática, é expressão disso.
A lição mais clara dessa campanha, até agora, é a derrota eleitoral das elites políticas –parlamentares, jurídicas e midiáticas– que, ao não aceitarem os resultados das urnas, capitanearam o impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta eleita e a impediram de governar.
A vontade elitista e antidemocrática, mas legal, de desrespeitar a vontade popular permanece. A cassação de mais de 3 milhões de títulos eleitorais pela maioria do STF foi sua mais recente expressão, mas o substrato de ódio reativo que emprestou base social à empreitada se deslocou dos seus mentores originais e hoje caminha com as próprias pernas.
…
Publicado em 15.nov.2018 às 2h00 (reproduzido sem alterações)
Após o golpe parlamentar de 2016, anti-intelectualismo e fundamentalismos diversos, que estão na base de uma nova extrema direita de abrangência global, rapidamente tornaram-se preponderantes na base de apoio do governo Temer.
Desde antes disso, vinham-se mostrando presentes em setores do Judiciário, numa preocupante politização dos operadores de Justiça, exemplarmente ilustrada pelas ações de cerceamento às universidades que precederam o segundo turno das eleições, a tempo declaradas inconstitucionais pelo STF.
O crescimento da extrema direita foi a grande surpresa eleitoral do primeiro turno, que se confirmou com a vitória do atual presidente eleito, no segundo. Como explicá-lo?
Facebook e WhatsApp assumiram que houve roubo de dados e uso de robôs em suas plataformas no primeiro turno das eleições no Brasil. Podem ter amplificado preconceitos que ajudaram a reverter tendências históricas de parte do eleitorado, sobretudo das classes populares. Mas não os inventaram.
Muitos apontam a circulação de notícias falsas em aplicativos e redes sociais como sintoma de nossa entrada na era da pós-verdade, caldo de cultura no qual o chamado novo “populismo de direita” seria criador e criatura. O fenômeno é mais complexo. As redes sociais democratizam as comunicações. As chamadas fake news apenas amplificam preconceitos, antes invisíveis, que passam a ter espaço no debate público.
Se houve suposto impulsionamento ilegal e direcionado dessas mensagens, o problema a se combater, nas redes ou na imprensa tradicional, é o mesmo: monopólio da informação e abuso de poder econômico.
Mais surpreendente, para mim, foi ver quase a totalidade das classes médias brancas e letradas do centro-sul do Brasil abraçar, com entusiasmo, a violência como valor (o gesto de atirar no inimigo, como símbolo).
Desde o surgimento do país como monarquia liberal e escravista, a hipocrisia, entendida como o elogio que o vício presta à virtude, constituiu-se como principal alicerce do nosso preconceito de ter preconceito e do mito da democracia racial entre nós, como nos ensinou Florestan Fernandes.
As transformações socioculturais dos últimos 30 anos parecem ter provocado uma mudança nesse traço essencial da cultura política brasileira, de consequências imprevisíveis.
É sempre importante ouvir a voz das urnas. Mesmo quando o voto do vizinho nos causa horror. Em um país racista, ainda profundamente marcado pela herança escravista nas relações sociais, que sempre autorizou o genocídio cotidiano de jovens pretos e da população LGBT nas periferias, uma parte expressiva do eleitorado das classes privilegiadas assumir o ódio como bandeira política faz sentido, ainda que seja absolutamente assustador.
Preconceito e cinismo emergiram vitoriosos e sem véus dessa eleição. Para superá-los, será preciso encarar feridas abertas, sempre presentes em nossa sociedade, que insistimos em não olhar. Será arriscado e doloroso, muito se pode avançar no autoritarismo dentro da ordem democrática, mas precisamos acreditar que a sociedade brasileira e os valores fundamentais da República de 1988 serão capazes de resistir e dar conta da tarefa.












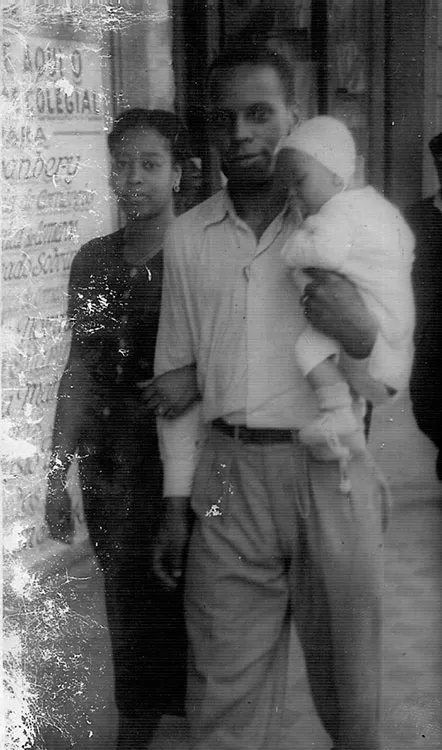

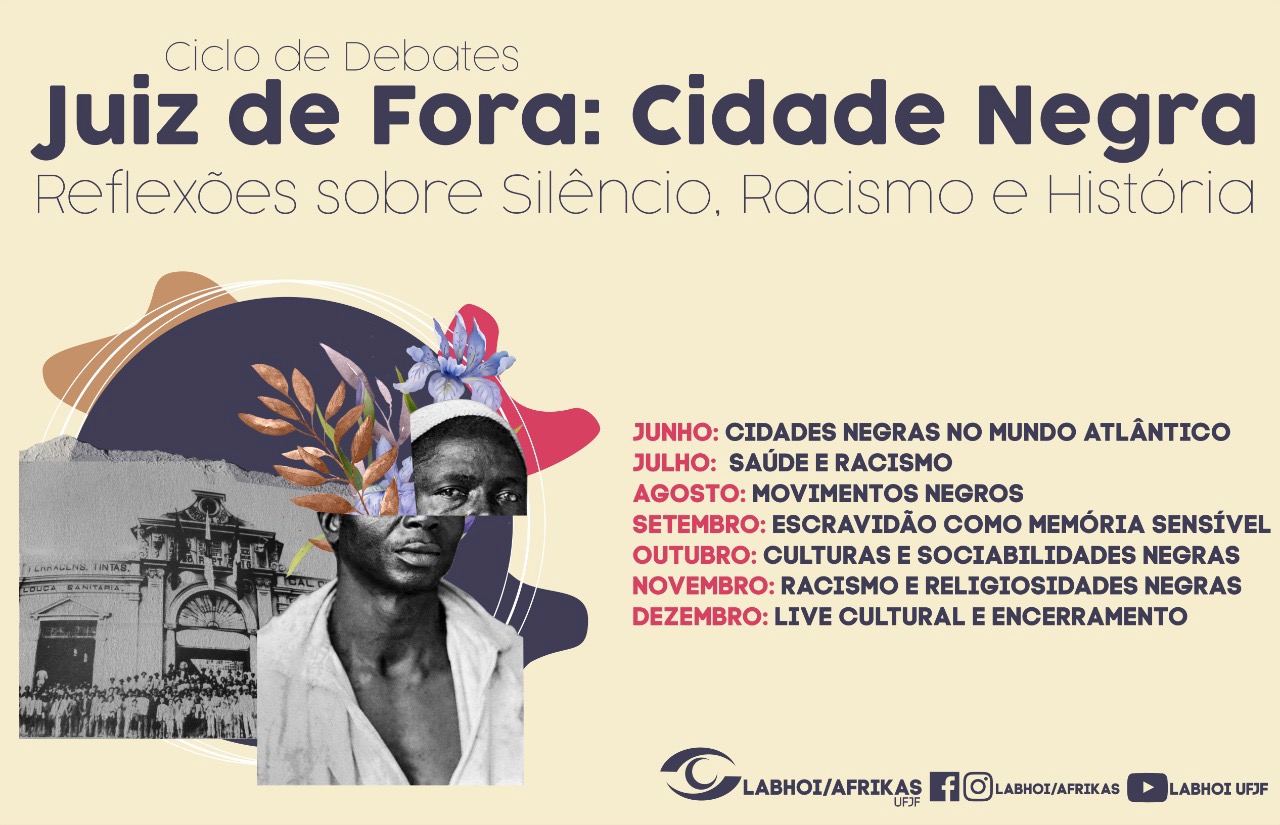







 Foto Francisco Proner Ramos
Foto Francisco Proner Ramos Passados Presentes
Passados Presentes