Na próxima terça-feira, dia 30 de maio de 2017, o Conselho Universitário da Unicamp decidirá a respeito da adoção das cotas raciais no sistema de ingresso dos seus cursos de graduação. A mobilização está intensa e animada. Já nesta segunda-feira, 29, será realizado um Festival/Ato pelas Cotas, que contará com a participação de ativistas, artistas e demais membros da comunidade acadêmica.

O Blog Conversa de Historiadoras se soma à essa onda contra o racismo e, portanto, em defesa da democracia, apresentando hoje um papo coletivo preto, o Dossiê Conversa de Historiadoras Negras − Cotas na Unicamp Já!, escrito por quatro mulheres que estiveram e/ou estão na Unicamp como discentes e docentes: Ana Flávia Magalhães Pinto, Giovana Xavier, Lucilene Reginaldo e Taina Aparecida Silva Santos.
“Enxugando gelo”: as cotas em debate na Universidade Estadual de Campinas
Lucilene Reginaldo, Professora do Departamento de História – Unicamp
Na próxima semana, no dia 30 de maio, o Conselho Universitário da Unicamp irá discutir e votar uma proposta de mudança na sua política de ação afirmativa para o ingresso nos cursos de graduação. Desde 2004, a universidade adota um modelo de bonificação com acréscimo de pontos na nota do vestibular aos estudantes oriundos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Entre as críticas recebidas pelo programa, destaca-se o impacto diminuto da política no tocante ao ingresso de negros (pretos e pardos) e indígenas. A insistência e ressonância destas críticas na comunidade acadêmica – e penso que tão somente elas – foram responsáveis por algumas mudanças significativas no sistema de bonificação que, entre outras consequências, conseguiu elevar o número de estudantes negros ingressantes através do concurso vestibular. Os números, entretanto, continuam abaixo da representação demográfica da população negra no estado de São Paulo e não impactam de maneira semelhante todos os cursos.
A proposta a ser votada nos próximos dias tem como principal subsídio o relatório do grupo de trabalho – reivindicado e instituído com a responsabilidade de organizar três audiências públicas no segundo semestre de 2016 – formado por representantes das organizações que pautaram o tema das cotas na paralisação estudantil (Frente Pró-Cotas e Núcleo de Consciência Negra), professores e funcionários. Em síntese, e à luz de amplo debate sobre o papel da universidade pública no combate ao racismo e às desigualdades sociais, bem como de uma avaliação minuciosa das experiências de implementação de cotas, o que se propõe para Unicamp é uma política de reserva de vagas (cotas) informada por critérios sociais e raciais.

Primeira Audiência – Cotas e ações afirmativas: perspectiva histórica e o papel da Universidade Pública no Brasil, 13.10.2016. Fonte: Jornal da Unicamp
Desde fevereiro, o relatório e proposta inicial do GT têm sido amplamente discutidos em diferentes espaços da Unicamp, tendo encontrado em alguns momentos resistências mais ou menos sistemáticas. Levada pelo movimento e pela força da condição e das circunstâncias – se assim posso dizer – como membro do GT que elaborou o relatório, tenho participado de vários debates com diferentes grupos e em várias unidades, atravessando inclusive a “confortável e previsível” fronteira das ciências humanas, conversando com professores, alunos e funcionários da área de saúde, das engenharias, das ciências exatas. Embora em muitos momentos tenha me sentido teletransportada para os acalorados debates ocorridos entre 2002 e 2006 – o que obviamente nos remete ao franco atraso e à resistência da Universidade de Campinas, em particular, e das universidades paulistas em geral, em relação às políticas de ação afirmativa baseadas no princípio das cotas – o debate atual tem algo de contemporâneo. Assim, mesmo a reprodução dos velhos argumentos, quando repostos no momento político atual, redimensiona e atualiza as antigas resistências.
Confesso, com certa hesitação, a recorrência de certos argumentos pôs à prova minha considerável paciência e capacidade de argumentação! “Ninguém sabe quem é negro no Brasil”. “As cotas colocarão em perigo os centros de excelências”. “As cotas enxugam gelo! Precisamos melhorar o ensino básico”. Diante destes argumentos a apresentação de dados que demonstram as desigualdades raciais no tocante à renda, educação, saúde e segurança, amplamente divulgados e debatidos há décadas, os estudos e avaliações que atestam o desempenho positivo dos cotistas e os resultados acadêmicos da diversidade, bem como as limitações das políticas universalistas no combate às desigualdades raciais, nem sempre foi bem sucedida.
Sem muita precisão metodológica, arrisco identificar uma face coletiva neste conjunto de argumentos. Nas entrelinhas da argumentação de impossibilidade de uma política de acesso ao ensino superior que defina metas e priorize os grupos que estão sub-representados ou ausentes na universidade pública se revela a defesa da manutenção de privilégios que não são jamais questionados na sua natureza histórica. Desse modo, a defesa do centro de excelência tem por suposto a universalidade de uma elite científica e intelectual. Diante das reticências deste grupo, cujo desconhecimento – proposital ou contingente – do histórico de implantação das cotas no Brasil frequentemente remetia a discussão à estaca zero, os versos de BNegão foram evocados como consolo: “Sigo na batida, a frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição por um receptor enferrujado pelos padrões do dia-a-dia/Enxugando o gelo, sua realidade segura por um fiapo de cabelo”.
É certo que o debate sobre as cotas extrapola os muros dos centros de excelência – o que não é nenhuma novidade – mas, de certa forma, singularmente se recoloca no contexto político atual. Políticas de ampliação da cidadania, o que quer dizer, direitos políticos, acesso aos bens materiais e de prestígio são inadmissíveis para a pequena parcela de privilegiados da sociedade brasileira. Desde a minha “área de conforto”, ou seja, olhando para o passado, não tenho dúvidas de que a interpretação é pertinente. Mas o que realmente me preocupa neste momento são as consequências desta pertinência para o futuro da nossa fragilizada democracia.
Cotas Já − Para que uma reunião de estudantes negros/as não seja convite para piada sobre quilombo?
Ana Flávia Magalhães Pinto, pós-doutoranda e doutora em História pela Unicamp
Considerada a segunda melhor universidade da América Latina, pelo QS University Rankings, a Unicamp se orgulha de ser uma referência na pesquisa acadêmica no Brasil e manter “a liderança entre as universidades brasileiras no que diz respeito a patentes e ao número de artigos per capita publicados anualmente em revistas indexadas na base de dados ISI/WOS”. Vendo através dessas lentes, mesmo que a instituição não esteja entre as cem melhores do mundo, estaríamos legitimados a falar tranquilamente sobre qualidade e excelência. Todavia, é o atraso da Unicamp que a torna digna de atenção no atual cenário. Um atraso perante a democracia, que também poderia ser visto por meio de números, mas que é facilmente percebido nas salas de aula e nos espaços abertos da universidade.
A presença de estudantes negros (pretos e pardos) nos cursos de graduação segue sendo empiricamente tímida, a despeito do que dizem as estatísticas divulgadas nos resultados de vestibular e dados de matrícula. Diante desse fato, a dificuldade e a demora da Unicamp, como instituição, em reconhecer o maior impacto das políticas de cotas em relação a outras políticas de ação afirmativa voltadas ao enfrentamento das desigualdades sociorraciais, como o PAAIS, a colocam em situação de atraso e nos obriga a seguir fazendo um debate recuado em relação ao que se encontra bastante avançado em outras universidades brasileiras.

Sindicato das Empregadas Domésticas de Campinas em apoio à implementação das cotas na Unicamp. Fonte: Núcleo de Consciência Negra da Unicamp.
A despeito de toda a disputa discursiva, ideológica, política etc. que se vivenciou desde pelo menos o início dos anos 2000, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 26 de abril de 2012, projetou a discussão para um outro nível. Ou seja, quando a suprema corte julgou improcedente a ação movida pelo partido Democratas (DEM), em 2009, contra o programa de ingresso de estudantes negros da UnB, reconheceu a constitucionalidade das políticas de cotas raciais nas universidades, e as considerou como medidas necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil; uma etapa decisiva foi cumprida, tendo como desdobramento imediato a promulgação da Lei n. 12.711, de 29 de agosto 2012, e a posterior Lei n. 12.990, de 9 de junho de 2014, que versa sobre a reserva de vagas em concursos públicos.
A lei federal, por certo, não rege o funcionamento de universidades estaduais, como a Unicamp, o que faz com que as coisas tenham aqui uma trajetória particular. E, por falar em particularidades e generalidades, às vésperas da votação pelo Conselho Universitário da proposta de incorporação das cotas raciais na política de acesso à graduação, me peguei pensando sobre episódios corriqueiros que ajudam a entender como o atraso desta universidade pôde ser não apenas tolerado, mas também tomado como marca de prestígio. As cenas não se limitam a registros de dor, mas mesmo as demonstrações de afeto e solidariedade estabelecidas por nós, pessoas negras, estão infelizmente conectadas a violências, porque funcionam como mecanismo de defesa e reação a hostilidades.
Logo que ingressei na Unicamp para cursar o doutorado, em 2009, achava um barato ser cumprimentada por funcionários/as negros/as que reconheciam com facilidade a novidade da minha presença nas áreas públicas da universidade e me lançavam um sorriso suave e uma faísca no olhar ao passar por mim, gestos de uma cumplicidade silenciosa. O mais divertido era saber que isso acontecia com outros/as poucos/as colegas também negros/as. Da mesma forma, era motivo de festa cada vez que se sabia de um/a estudante negro/a aprovado/a no processo de seleção de qualquer programa de pós-graduação. O costume da exclusão fazia com que as doses homeopáticas de inclusão fossem sentidas como porções cheias.
Essa sensação agradável, porém, logo tinha seu encanto roubado ao fatalmente se adquirir o hábito de ficar apreensiva/o já antes de entrar nas bibliotecas sabendo que, a qualquer momento, mais um/a estudante branco/a poderia te abordar pedindo para que você procurasse algum livro ou prestasse algum serviço pra ele/a. Ou ainda quando um/a colega de curso se mostrava surpreso/a por você dominar mais do que o conteúdo das disciplinas, sobretudo por não entender como isso se casava com sua profunda erudição sobre os “Pagodes Anos 90”, antes de isso se tornar moda entre a galera “cult-bacaninha”. E o que dizer quando um professor, ao avistar um grupo de estudantes negros reunidos em volta de uma mesa pública do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, se aproximou e perguntou com ar de empolgação: “Isso aqui é um quilombo?”.
Os registros do atraso da Unicamp em prejuízo à promoção da democracia no Brasil que poderiam ser feitos por estudantes, funcionários/as concursados/as e terceirizados/as, e os/as poucos/as professores/as negros/as dariam para a edição de muitos volumes, repletos de informações suficientes para evidenciar a fragilidade da excelência da instituição. Isso, aliás, serviria muito bem para marcar a inquestionável legitimidade das políticas de cotas, defendidas hoje por mais gente além de nós negros, ainda minoria nesse espaço. Seja como for, o momento agora é para que posicionamentos sejam tomados. Diante da mobilização que rompe os limites da universidade, no dia 30, saberemos até que ponto a Unicamp gosta de avanço, liderança e bons conceitos.
A luta antirracista e o poder ser: afrontes e a construção de um novo projeto humanista
Taina Aparecida Silva Santos, graduanda em História pela Unicamp
Entre luzes e som, só encontro, meu corpo, a ti. Velho companheiro das ilusões de caçar a fera. Corpo de repente aprisionado pelo destino dos homens de fora. Corpo/mapa de um país longínquo que busca outras fronteiras, que limitam a conquista de mim. Quilombo mítico que me faça conteúdo da sombra das palavras. Contornos irrecuperáveis que minhas mãos tentam alcançar (Beatriz Nascimento, O conceito de quilombo e a resistência cultural negra [1977]. In: Alex Ratts. Eu sou atlântica: sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo:Imprensa Oficial, 2006).
Entre todos os processos que compõem a luta pela implementação das cotas raciais na Unicamp, um especial, tem me chamado muito a atenção, não pelo fato de eu fazer parte disto, mas, sim, pela sensação de sentir-me pertencente ou ligada a algo que muitos outros negros e negras com que partilho esses momentos andam percebendo também. Demarco a experiência desses corpos pretos, primeiramente, pela violência a que o racismo os submetem pelo simples fato de existirem. Essa reflexão é importante, pois, chegado o momento que a discussão tomou grandes proporções a ponto de tornar-se imprescindível que a comunidade como um todo, acadêmica ou não, tomasse posições verbalizadas, silenciosas, favoráveis ou contrárias, acredito que, para aquelas e aqueles de pele escura, essa questão sacudiu nossas identidades pessoais e coletivas. Algo complexo que, ao refletir sobre, me vejo mais desvendando um caminho, um mapa, do qual ainda não sei as fronteiras e nem onde conseguirei alcançar, porém, a cada dia que passa, fica mais evidente que esse mapa são os nossos corpos, como nos lembra Beatriz Nascimento (Cf. Christen Smith. Lembrando Beatriz Nascimento: quilombos, memórias e imagens negras radicais. In: Sidney Chalhoub e Ana Flávia Magalhães Pinto (orgs.). Pensadores negros, pensadoras negras: séculos XIX e XX. Belo Horizonte: Fino Traço, 2016). Corpos que, no contexto em questão e até na experiência da formação de movimentos negros no Brasil e na diáspora, têm constituído um território negro.

Ato durante a Greve Unicamp, 2016. Fonte: Núcleo de Consciência Negra da Unicamp.
Desde que iniciei meus estudos na Unicamp, em 2014, eu participo de um grupo de negras e negros que se reúne uma vez por semana, durante o horário do almoço, em umas mesinhas que ficam na parte central da Universidade – PB. Ao me aproximar desses estudantes acabei conhecendo os outros poucos negros e negras – estudantes, funcionários e professores presentes nessa ilha branca da cidade de Campinas, que atuavam, circularam ou circulavam em torno do Núcleo de Consciência Negra, outros grupos que tiveram composição e atuação semelhante dentro ou fora da universidade. Conheci, também, pretos e pretas que não fizeram parte de nenhum grupo do tipo, porém, independentemente de cada de nós, 2016 presenciamos algo inédito na história da Unicamp: a universidade parou com a eclosão de uma greve estudantil, na qual a denúncia do racismo tomou proporções incríveis e as cotas raciais junto com a ampliação das políticas de permanência estudantil tornaram-se uma das pautas principais da mobilização.
Protagonizados pelos estudantes negros, os embates para convencer as pessoas de que a violência que aflige as nossas vidas importam foram duros e acirrados, em muitos momentos até dolorosos, pois, se pensarmos na presença negra na Unicamp, esses afrontamentos vêm de muito antes dessa greve. Entretanto, a politização em torno da discussão das cotas que se transformou numa “quizumba”, como diria Lélia Gonzalez, abriram os meus olhos para perceber os significantes dos nossos corpos como territorialidades multilocalizadas em determinados tempos nesse espaço, pois uma série de outros estudantes negros, para além daquele grupo que se reunia todas as sextas-feiras nas mesinhas do PB, ao meio dia, passou a tomar para si essa luta também, tensionando o cotidiano inquestionável a ponto instaurar um clima no qual se deu a entender que situações racistas não passariam mais em branco, nem em silêncio. É certo que nem eu, nem nenhum dos meus colegas invetou a roda da luta antirracista na Unicamp, que isso seja lembrado, em respeito àquelas e àqueles que vieram antes de nós. Porém, muitas conversas “não colam mais”, principalmente àquelas que tentam justificar uma naturalização da nossa ausência em espaços como uma universidade pública que é mantida com nosso dinheiro. Nossas vozes, se multiplicaram e estamos avançando no sentido de nos compreendermos enquanto sujeitos de direito inscritos em corpos que se constituem enquanto territórios políticos.
A mobilização encadeada pela discussão sobre o desprezo que a Unicamp – enquanto reflexo da realidade social, política e econômica brasileira, em especial, paulista – vem alimentando em relação às nossas vidas, logo, também, em relação às políticas de combate ao racismo, evidenciou uma territorialidade para além de um espaço físico, apontando para uma rede entre nossos corpos que conectou os negros e negras que ali estavam. Acabou, também, potencializando a compreensão de uma linguagem entre nós que ampliou a sensibilidade no que diz respeito àquilo que nos fere, o que, também intensificou a altura dos nossos gritos.
Esse processo tem sido curioso, pois a conexão entre nós está longe de se dar no âmbito de uma possível essência. Pelo contrário, esse território é constituído sobre muitas diferenças e contradições que fazem parte do ser. No entanto, todos esses movimentos têm nos mostrado que essas possibilidades causadas pela interrelação entre corpos negros e esse espaço tão hostil indicam a necessidade da reformulação de um novo pacto de humanidade, pois, se é sobre racismo que estamos falando, reconhecer a desumanização das populações negras e indígenas como um dos maiores massacres da nossa sociedade é essencial para compreender a dimensão de um problema que ainda perdura nas nossas vidas.
Sendo assim, não para concluir, mas sim, para passar a bola nesse momento de reflexão que essa luta, entre outras, nos inspira, compartilho as palavras de Abdias do Nascimento:
“Os negros têm como projeto coletivo a ereção de uma sociedade fundada na justiça, na igualdade e no respeito a todos os seres humanos, na liberdade; uma sociedade cuja natureza intrínseca torne impossível a exploração econômica e o racismo. Uma democracia autêntica, fundada pelos destituídos e os deserdados desse país, aos quais não interessa a simples restauração de tipos e formas caducas de instituições políticas, sociais e econômicas as quais serviram unicamente para procrastinar o advento de nossa emancipação total e definitiva que somente pode vir com a transformação radical das estruturas vigentes. Cabe mais uma vez insistir,: não nos interessa a proposta de uma adaptação aos moldes de sociedade capitalista e de classes. Essa não é a solução que devemos aceitar como se fora mandamento inelutável. Confiamos na idoneidade mental do negro, e acreditamos na reinvenção de nós mesmos e da nossa história. Reinvenção de um caminho afro-brasileiro de vida fundado em sua experiência histórica, na utilização do conhecimento crítico e inventivo de suas instituições golpeadas pelo colonialismo e o racismo” (Abdias do Nascimento. O quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1980).
Corpos Pretos, conselhos brancos: racismo acadêmico e cotas raciais na Unicamp
Giovana Xavier, Professora de Ensino de História UFRJ e coordenadora do Grupo Intelectuais Negras
Recentemente, fui convidada a contribuir com um artigo para o terceiro número do jornal do Coletivo Nuvem Negra da PUC, uma organização incrível de universitários pretos que, dentre outras ações, deram vida à destemida campanha “Quantas Professores Negros a PUC-Rio tem?”, que traz como objetivo a realização de um censo racial da categoria docente na universidade em que estudam. Pois bem.
O grupo de estudantes, nos quais se destacam jovens lideranças como Lucas de Deus e Yasmin Thainá, solicitou-me dedicar algumas linhas ao legado das Intelectuais Negras nas universidades brasileiras, dentre as quais podemos e devemos sempre lembrar de Azoilda Loretto da Trindade, Beatriz Nascimento, Lelia Gonzales, Luiza Bairros para ficarmos com algumas. Para mim, professora universitária que faz questão de explicitar sua raça e titulação através da identidade Preta ‘Dotora’, o convite do Coletivo despertou, além do orgulho e da importância de apoiar as novas gerações, a reflexão do quanto as conquistas alcançadas até aqui são irreversíveis.

Ato durante a Greve Unicamp, 2016. Fonte: Núcleo de Consciência Negra da Unicamp.
Pensar nessa irreversibilidade, expressa na hashtag #nenhumdireitoamenos, significa também refletir o quanto nossas conquistas têm sido construídas às custas de muitas violências às quais nossos corpos pretos estão submetidos, dentro e fora do espaço acadêmico. Como a conversa aqui é in-academia e pautada por historiadoras Pretas, rememoro algumas das minhas histórias como estudante de doutorado na Unicamp, sempre na esperança de que as palavras lançadas nos fortaleçam e inspirem para a construção de projetos políticos que nos representem.
A primeira delas − um trauma com o qual tive de lidar por muitos anos − refere-se à hostilidade de meus colegas de turma de doutorado quando apresentei meu projeto de pesquisa na linha de História Social da Cultura (Cecult). À ocasião, a investigação focava-se na temática dos concursos de beleza negra em São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Até hoje fico a me perguntar: qual seria o problema: a beleza ou o negra? Muitas são as respostas, mas nenhuma delas nos exime de algo com o qual temos de lidar como corpos pretos no mundo acadêmico branco: o preço de ser identificada e interpretada como a exceção do seu grupo racial. Ser exceção na Unicamp fez com que eu passasse quatro horas sujeita a “conselhos” bem intencionados sobre como “escrever melhor”, “procurar temas de pesquisas mais adequados”, “programas de pós-graduação que combinassem mais comigo”. O mais cool de tudo isso é que prestei bastante atenção em todas as dicas. Menos de um ano depois da conclusão do doutorado estava eu concursada e empregada como Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Namastê!
A segunda história, também passada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, refere-se a uma situação em sala de aula. Ao realizar uma disciplina obrigatória, o professor, que dentro das contradições que só as elites brancas têm o direito de experimentar, não era muito chegado a lecionar, dividiu o programa de seu curso em seminários, que ficaram sob a nossa responsabilidade. Ao longo de um semestre, cada grupo de pós-graduandos escolhia seu tema, preparava um seminário e apresentava à turma. Um dos grupos, composto por pessoas brancas, em sua maioria com sobrenomes dominados pelas consoantes (o que é autoexplicativo das muitas facetas do privilégio) apresentou-nos a biografia de Primo Levi. Lembro-me que o grupo levou a turma às lágrimas, dadas as tragédias e violências ignóbeis do Nazismo alemão. Recordo também que havia na sala, algumas exceções da pele preta, além de mim. Ufa!
Lá pelas tantas, interrompi o grupo e pontuei o quanto como historiadores deveríamos discutir qual grupo tem o direito de ter sua história interpretada a partir da categoria “holocausto”. Seria oportuno debatermos os diferentes status entre “holocausto” do povo judeu e “genocídio” da população negra. Torta de climão servida, o professor, figura rara nas suas próprias aulas, lembrou-me educadamente que existiam muitos poucos negros nas universidades, por isso as pesquisas sobre escravidão, tráfico e desumanização eram tão escassas. A colega ao meu lado, ostentando suas consoantes, olhou-me de cima a baixo, com a certeza escravocrata de que cada um tem seu lugar e lançou: “se não está satisfeita, faça você mesma pesquisas sobre sua história e sua gente”.
***
Se de boas intenções o inferno está cheio, fica a pergunta: o que seria dos corpos pretos sem os conselhos brancos?
Quando olho para trás e vejo onde chegamos hoje, enche-me de orgulho estar de fora e de dentro de uma Unicamp na qual os lugares da mesa estão sendo bagunçados. A votação, no próximo 30 de maio no Conselho Universitário da Unicamp, sobre a proposta de mudança da política de ações afirmativas para ingresso na graduação, me faz cantar:
Eles querem que alguém / Que vem de onde nóis vem / Seja mais humilde, baixa a cabeça / Nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda.
Não esqueceremos! Afinal, aprendemos com Mãe Beatá de Iemonjá, transformada ontem em estrela, que quantas vezes voltarmos à terra retornaremos Negros.





























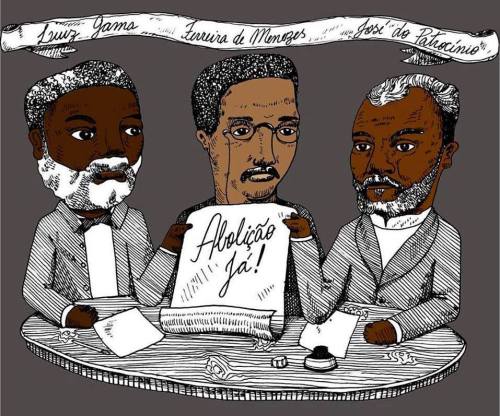


 Foto:
Foto: Biografia de Baquaqua, africano liberto que quando escravizado foi trazido ao Brasil
Biografia de Baquaqua, africano liberto que quando escravizado foi trazido ao Brasil













 Passados Presentes
Passados Presentes