*with an English translation at the end by Tyler Ralston.
Quem o ouvia pela primeira vez imaginava-o imigrante português por sua dicção próxima aos lusitanos. Por sinal, sua relação com a língua era excelente, fazia mesmo inveja aos nativos. Como escrevia e falava bem aquele americano de estatura mediana, olhos bem claros e pele comumente bronzeada. Hospedava-se em Copacabana sempre e circulava pelos cantos da cidade com extrema facilidade (encontrei-o em arquivos e bibliotecas em meio a pesquisas ou no suburbano bairro de Bento Ribeiro onde foi saudar o primeiro ano de meu filho Peri).
Mas foi no Picote, um já falecido boteco pé-sujo do Flamengo, onde tivemos inesquecíveis conversas sobre a vida, a experiência de ensino na academia, o desenvolvimento de pesquisa e o amor pela cidade do Rio de Janeiro. Toda vez que vinha para estas bandas enviava simpático e-mail já agendando uma data para o chope. Bebíamos vários, degustávamos pescadinhas fritas e empadas, enquanto ele fumava incontáveis cigarros.

Foi num desses encontros que ele me contou da competição que fazia entre seus alunos e alunas de pós graduação, no bar No Anchovies, perto da Universidade de Arizona, Tucson, onde lecionava. Ele me contava sobre essa disputa com entusiasmo. Tyler Ralston, um dos seus orientandos, participou certa vez e relatou haver dois times, o River (Rio Ypiranga) e o Hill (a colina sagrada do Senhor do Bonfim). A disputa resumia-se a quem melhor cantava o Hino Nacional Brasileiro no caso do primeiro time, e o Hino do Senhor do Bonfim, no segundo. Ainda havia outras criações a cada ano (sim, o evento era parte do cronograma anual de curso) como vestirem-se de Caetano Veloso e Gilberto Gil para cantarem o hino na versão de Tropicália. Tudo isso acontecia depois de umas bebidas, só pra quebrar a timidez, e era julgado pela turma de estudantes do ano anterior. Bar cheio e muita alegria. Seus orientandos haviam de experimentar o Brasil mesmo distantes daqui. Bert era muito sério e alegre.
Conto tudo isto antes, pois Bert curtia a vida tanto quanto amava a pesquisa. Mas o cara era incrível e reconhecidíssimo por seu trabalho. Sob orientação de Joseph Love, na Universidade de Illinois, redigiu elogiadíssima tese sobre o Recôncavo Baiano, rompendo com o que Maria Yeda Linhares considerou como sendo o “atestado de óbito do chamado dualismo estrutural da sociedade colonial, que se construía no Brasil e segundo a qual a colônia teria se constituído para produzir açúcar nada mais do que açúcar, a monocultura que sustentaria a mão-de-obra africana importada.” Bert chegou a este reconhecimento não somente em termos teóricos, mas também por sua capacidade de articulação metodológica na investigação de fontes paroquiais, censos, inventários e diversas fontes manuscritas. Como afirmou Marcus Carvalho, o livro Um Contraponto Baiano, Açúcar, Fumo, Mandioca e Escravidão no Recôncavo, 1780-1860 (Civilização Brasileira, 2003) é um “verdadeiro manual prático de metodologia.”
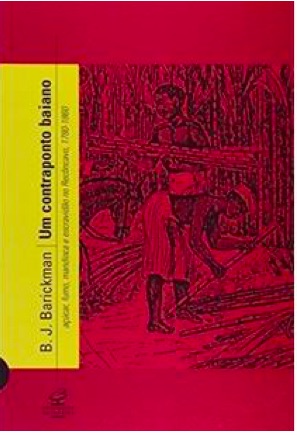
Acompanhei mais de perto a sua pesquisa, que agora encontra-se interrompida (li 4 capítulos, mas ainda restavam outros 4, segundo o próprio autor). Trata-se de uma História Social das praias do Rio de Janeiro, onde o amigo brasilianista analisou os diversos sentidos dos banhos de mar e experiências dos banhistas nos séculos XIX e XX. É um trabalho belíssimo e deveras meticuloso. Bert queria entender o porque de as pessoas irem à praia, como elas iam vestidas, que transportes utilizavam, a temperatura das águas, os esportes praticados, as praias frequentadas, as classes sociais e cores dos banhistas, como era ser mulher e homem na areia, o que e como comiam, quem vendia e o que vendiam. Daí surgiam debates fundamentais sobre, por exemplo, como lidar com o bronzeamento, para amorenar-se, numa sociedade racista como a nossa? Enfim, o que era ser “moreno”? Questões como estas se multiplicam nos quatro capítulos que até hoje guardo, agora, como relíquias.
Li, sugeri mudanças e todas aquelas ações que amigos/as fazem quando são convidados a avaliar partes ou o resultado final do trabalho. Mas ele gostava de ouvir também sobre minha adolescência de suburbano na praia dos anos 1980, década em que as linhas de ônibus criadas pelo então governador Leonel Brizola tornaram mais fácil o acesso de suburbanos às praias de Ipanema e Leblon.
Entre chopes, pescadinhas, empadas (ele adorava as empadas do Picote) e cigarros, eu começava a lembrar de como era ir à praia. Para não serem zoados como suburbanos e invasores da praia, por metidinhos moradores do balneário, muitos rapazes chegavam a Cascadura só de sunga de praia e, às vezes, descalços para fingirem-se moradores da Barra da Tijuca ou do Recreio dos Bandeirantes (isto era comum também entre aqueles que iam a Ipanema e Copacabana). Pegávamos ônibus extremamente lotados, sem ar condicionado; algo até hoje comum entre as empresas prestadoras de péssimos serviços à população.
Lembrava de como temia as ondas, da fome que dava (comíamos um sanduba de pão com mortadela e bebíamos Coca-Cola na saída da praia); que não íamos para Ipanema (o povo de lá nos incomodava), mas para a Barra (que não possuía tantos moradores e os emergentes de agora). Nos divertíamos muito. Ah, e também da moda da praia da galera. Não valia shorts “Sulze” como se vendia no camelô ou na feira, mas “Silze” das lojas principais de Madureira. Bronzeamento havia de ser com óleo de avião ou Rayito del Sol (vindo do Paraguay). As moças já passavam água oxigenada para aloirar os pelos das coxas e braços que não eram “raspados” e davam maior frisson nos garotos. As bermudas das “gatas” tinham o vão das pernas desfiadas a mão. Muito daquela moda depois foi incorporada pelas empresas. Ele anotava todas estas informações, comparava com relatos da imprensa que lia e dos programas televisivos que conseguia levantar.
Meu querido amigo Bert Barickman, como curtia conversar contigo. Cara, descansa aí que sua obra está pronta (afora as que você me enviaria, já tenho quase 250 páginas tuas prontas, meu camarada!). Se esse papo de outra vida for sério, te encontrarei novamente no Picote para rirmos muito do passado.
Um abraço já saudoso de ti.
….
When you heard him speak for the first time, you might have thought that he was a Portuguese immigrant because of his continental diction. His superb command of the language, in fact, made native speakers envious. How eloquently he spoke and wrote, that suntanned medium-built American with bright blue eyes. He always stayed in Copacabana, navigating through the various quarters of the city with the greatest of ease (I often found him in archives and libraries deep into his research, or in the distant suburban neighborhood of Bento Ribeiro, where he went to celebrate my son Peri’s first birthday).
But it was in Picote, a now defunct hole-in-the-wall bar in Flamengo, where we had unforgettable discussions about life, our teaching experiences in academia, the progress of our research, and our love for the city of Rio de Janeiro. Every time he came to these shores, he would send a friendly email, with the date of our chopp already scheduled. We drank our drafts and sampled their fried seafood appetizers and savory pies, while he smoked countless cigarettes.
It was during one of these encounters that he told me, with unbridled enthusiasm, about the singing competition that he had for his graduate students at the University of Arizona. Tyler Ralston, one of his students, related that Bert organized the class into two teams: River (the Ypiranga River), and Hill (the Sacred Hill of the Senhor do Bonfim). On the day of the competition, the rivals met at No Anchovies, a bar in Tucson, where each team sang its respective song: the Brazilian national anthem for the River, while the Hill sang the anthem for the Senhor do Bonfim. Every year, Bert encouraged the students to take the event to new levels of creativity (yes, it was part of the course syllabus). One year, the participants, dressed like Caetano Veloso and Gilberto Gil, sang the national anthem Tropicalia style; another year, Hill organized an elaborate procession that arrived marching into the bar. The two teams often had a few drinks prior to their respective performances, if only to shake off the jitters. Participants from previous years, now having attained the status of judges, convened to vote on their decision and then announced the winner to the bar, which was always packed and brimming with energy on the day of the competition. Bert’s students experienced Brazil half a world away. Bert was at once very serious and joyful.
Beyond all of this, Bert enjoyed life as much as he loved his research. The guy was incredible and highly recognized for his work. Under the direction of Joseph Love at the University of Illinois, Bert wrote his highly-praised dissertation on the Bahian Recôncavo, breaking with what Maria Yeda Linhares considered to be the “death certificate of the so-called structural dualism of colonial society, which was being built in Brazil and according to which, the colony would have existed to produce sugar and nothing but sugar; the monoculture that would support the imported African labor.” Bert arrived at his conclusions not only in theoretical terms, but also for his innovative research of parroquial records, census data, plantation inventories, and various written sources. As Marcus Carvalho affirms, the book A Bahian Counterpoint: Sugar, Tobacco, Cassava, and Slavery in the Recôncavo, 1780-1860 (Stanford University Press, 1998), is “truly a practical manual for methodology.”
I closely followed his research, which is now interrupted (I read four chapters, but four chapters remain, according to the author). It deals with the social history of the beaches of Rio de Janeiro, where our Brazilianist friend analyzed the diverse meanings of beach-going and the experiences of sea bathers during the nineteenth and twentieth centuries. It is a beautiful and truly meticulous work. Bert wanted to understand why people went to the beach, what they wore, what means of transportation they used, the temperature of the water, the sports they played, the beaches that they frequented, the social classes and the races of the beachgoers, what it meant to be a man or a woman on the sands, what they ate, and what they sold. From these entry points emerged crucial debates regarding, for example, how to deal with tanning (how to darken oneself in a racist society such as ours?) and finally what it means to be dark-skinned. Questions such as these multiplied in the four chapters that I have today, which I now guard as relics.
I read, offered suggestions, and undertook whatever actions friends take when they are invited to evaluate parts or final drafts of a work. Nevertheless, he liked to hear about my adolescence as a suburbano at the beach during the 1980s, the decade when Leonel Brizola created the bus routes that made it easier for us suburbanites to get to beaches such as Ipanema and Leblon.
Over cold beer, appetizers, savory pies (he loved empadas from Picote) and cigarettes, I began to remember what it was like to go to the beach. I recalled that in order that we not be pegged as suburbanites and beach invaders by snobby residents of those upscale neighborhoods, many of us arrived from Cascadura wearing just our Speedos, and sometimes even barefoot, in order to disguise ourselves as locals from Barra da Tijuca or Recreio dos Bandeirantes (this was also common for those that went to Ipanema and Copacabana). We hopped on busses packed to the gills with no air conditioner; something still common today among the businesses that offer crappy service to the public.
I remembered how I feared the waves, how we managed hunger (we ate bologna sandwiches and drank Coca-Cola when we finally left the beach). I recalled that we didn’t go to Ipanema (the people from there irritated us), but rather to Barra (it didn’t have so many residents like it does today). We had a great time. Ah…the beach fashion of our crew. We didn’t wear the “Sulze” shorts that they sold on sidewalks and street fairs, but “Silze” from the main stores of Madueira. Tanning had to be done with “Avião” oil or “Rayito del Sol” (imported from Paraguay). The girls put hydrogen peroxide on their thighs and arms to dye their body hair blonde so that it wasn’t “rough” and wouldn’t scare off the guys. The “babes” also made fringes on their jean shorts by hand: a style that many businesses later incorporated into their merchandise. Bert took careful notes of all of this information, comparing it to news articles and television programs from the ear that he managed to track down.
My dear friend Bert Barickman, how I enjoyed talking with you. Rest assured, man, that your work is ready (outside what you sent me, I already have almost 250 of your pages ready to go, comrade!) If that talk about the other life was serious, I will meet you again at Picote, and we’ll have a good laugh about the past.
Um abraço já saudoso de ti.
 O conversa de historiadoras homenageia Bert Barickman com este belo texto do nosso colega Álvaro Nascimento. Bert foi colega de mestrado de Hebe e Martha na UFF nos anos 1980. Foi um grande amigo de Ana Lugão Rios. Nos últimos anos, o prêmio para o ganhador da competição entre os River e os Hill era um DVD Memórias do Cativeiro. Amigo, aí do outro lado, Ana Lugão vai adorar conversar com você sobre sua pesquisa sobre a praia, que o Álvaro já leu e que nós todas queremos ler. Saudades.
O conversa de historiadoras homenageia Bert Barickman com este belo texto do nosso colega Álvaro Nascimento. Bert foi colega de mestrado de Hebe e Martha na UFF nos anos 1980. Foi um grande amigo de Ana Lugão Rios. Nos últimos anos, o prêmio para o ganhador da competição entre os River e os Hill era um DVD Memórias do Cativeiro. Amigo, aí do outro lado, Ana Lugão vai adorar conversar com você sobre sua pesquisa sobre a praia, que o Álvaro já leu e que nós todas queremos ler. Saudades.
River X Hill (fotos)













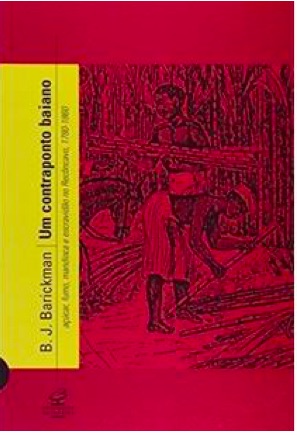
 O conversa de historiadoras homenageia Bert Barickman com este belo texto do nosso colega Álvaro Nascimento. Bert foi colega de mestrado de Hebe e Martha na UFF nos anos 1980. Foi um grande amigo de Ana Lugão Rios. Nos últimos anos, o prêmio para o ganhador da competição entre os River e os Hill era um DVD Memórias do Cativeiro. Amigo, aí do outro lado, Ana Lugão vai adorar conversar com você sobre sua pesquisa sobre a praia, que o Álvaro já leu e que nós todas queremos ler. Saudades.
O conversa de historiadoras homenageia Bert Barickman com este belo texto do nosso colega Álvaro Nascimento. Bert foi colega de mestrado de Hebe e Martha na UFF nos anos 1980. Foi um grande amigo de Ana Lugão Rios. Nos últimos anos, o prêmio para o ganhador da competição entre os River e os Hill era um DVD Memórias do Cativeiro. Amigo, aí do outro lado, Ana Lugão vai adorar conversar com você sobre sua pesquisa sobre a praia, que o Álvaro já leu e que nós todas queremos ler. Saudades. 
































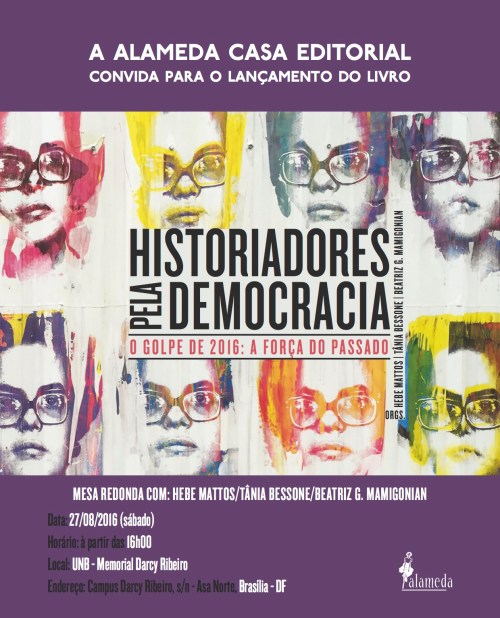
 Passados Presentes
Passados Presentes