Amigos, a uma semana do segundo turno da eleição presidencial, nosso post não poderia ser outro do que a carta aberta do nosso grande amigo Sidney Chalhoub, que já vem circulando na internet. Assim ela fica incorporada à biblioteca do BLOG. Chalhoub estará na UFF nos dias 27 e 28 de outubro, para participar do seminário “Escravidão e Cultura Afro-Brasileira: Temas e Problemas em torno da obra de Robert Slenes”. No seminário, Robert Slenes, pioneiro na criacão do campo da história social da escravidão no Brasil, será homenageado por seus muitos ex-orientandos e alunos. Ele começou sua carreira na UFF, onde foi orientador de mestrado de Chalhoub e também de Martha. Um evento absolutamentre imperdível.
* * *
A “Velha Corrupção” (carta aberta aos jovens sobre as eleições)
Sidney Chalhoub – historiador, professor da Unicamp
A violência do debate eleitoral no momento causa perplexidade aos jovens de idade semelhante aos que tenho em casa, que talvez acompanhem pela primeira vez, “ligados” de verdade, uma campanha eleitoral dessa importância para o país. Especialmente em São Paulo, a grande imprensa produziu um verdadeiro clima de guerra civil midiática em torno desta eleição, desinforma o quanto pode, confunde e manipula. São anos a fio de fogo cerrado contra o governo, em matérias jornalísticas cujos autores assumem o ar arrogante de ilibados defensores da ética e do interesse público.
A insistência no tema da corrupção, como se o atual governo tivesse inventado semelhante mostrengo, é uma combinação ácida de ignorância e hipocrisia. Vamos primeiramente à ignorância histórica, na qual a grande imprensa chafurda com grande desenvoltura. A corrupção está, por assim dizer, no código genético do Estado brasileiro. Nas primeiras décadas após a Independência, período de formação do Estado nacional, a fonte principal da corrupção foi o tráfico ilegal de africanos escravizados. Ao negociar o reconhecimento de nossa Independência no exterior, o Brasil contou com o apoio da Inglaterra em troca do compromisso de não continuar a capturar e escravizar africanos por meio do tráfico negreiro. Em respeito aos acordos internacionais firmados pelo país, o parlamento brasileiro aprovou uma lei de proibição do tráfico africano em 7 de novembro de 1831. Todavia, os africanos continuaram a chegar. Entre 1831 e o início da década de 1850, quando o tráfico realmente acabou por força da aplicação de uma nova lei, 750 mil africanos foram introduzidos no Brasil por contrabando e escravizados à revelia das leis do país.
O tráfico negreiro ilegal coincidiu com o desenvolvimento da cafeicultura no Vale do Paraíba fluminense e paulista. Em meados do século XIX, era comum que cerca de 80% dos trabalhadores das fazendas de café dessa região fossem africanos ilegalmente escravizados. Para dizer as coisas com clareza: a riqueza dos barões do café e a prosperidade das províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo foram construídas por meio da escravização em massa de africanos sequestrados em seu continente de origem e trazidos para o Brasil ilegalmente. O negócio contou com a prática de corrupção em todas as escalas do governo do país e envolveu amplos setores da sociedade, desde os empresários envolvidos no tráfico, outros empenhados em manter a clandestinidade das operações, até os intermediários e fazendeiros que adquiriam os escravizados.
Basta de informação, oferecida aqui apenas para contrabalançar a ignorância histórica de boa parte da mídia nativa. Em especial quanto aos jornalões do Estado de São Paulo, eles deviam enrubescer de vergonha cada vez que insinuassem a virtude própria para enfatizar a corrupção alheia. Um deles, àquela época chamado A Província de São Paulo, foi fiel defensor dos proprietários de gente criminosamente escravizada. Quanto a este assunto, desde a sua fundação, em 1875, foi conivente com a Velha Corrupção. Sim, “Velha Corrupção”, para marcar bem o tamanho histórico do problema que os jornalões cismam de atribuir ao atual governo, apenas no intuito de desinformar e tentar influir no resultado das eleições.
Portanto, chega de hipocrisia, de usar dois pesos e duas medidas. No país independente, a corrupção surgiu junto com o Estado em formação, nele se incrustou e é uma tragédia que aí continue. Assim como continua a grassar na sociedade, como parece óbvio, presente às vezes nas falas dos próprios sujeitos que, ao mesmo tempo, vociferam contra os corruptos no Estado e se dedicam com afinco a viciar concorrências públicas, a bolar estratégias para sonegar impostos diversos, até para ingressar nos aeroportos do país com muambas variadas e outras baixezas do gênero.
Chega de hipocrisia. Onde estava a disposição de investigação da grande mídia quando o governo do PSDB, segundo se dizia, comprava os votos de parlamentares para aprovar a lei que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso? O chamado “mensalão do PSDB mineiro”, origem do outro do qual tanto se falou, por onde anda? As denúncias de irregularidades nas privatizações tucanas de empresas públicas –algumas vendidas a preço de banana- mereceram a devoção investigativa da grande imprensa? Trens? Metrô? Tudo anda assim tão dentro dos conformes em São Paulo, a nossa Tucanolândia?
A corrupção é tema complexo e difícil. Não há governante, no Brasil, que dê cabo disso numa penada. Muita coisa se pode e deve fazer para livrar o país da Velha Corrupção. Para começar, o governo precisa ter disposição para enfrentar o problema e tem de garantir a eficácia e a independência dos órgãos encarregados de investigar, processar e punir os responsáveis. O governo Dilma foi exemplar nesses quesitos. Por conseguinte, a hipocrisia de caluniá-lo por isto é especialmente danosa à democracia e ao atual processo eleitoral.
ESTÁ AUTORIZADA A REPRODUÇÃO EM BLOGS E SITES DE NOTÍCIA















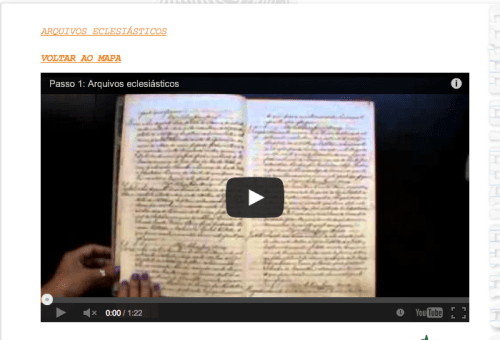

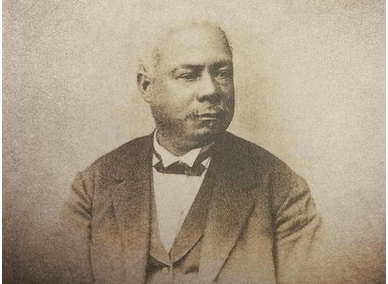













 Passados Presentes
Passados Presentes