Há duas semanas, desde que a imagem da derrubada da estátua do traficante de escravos Edward Colston correu mundo, o assunto passou a ser intensamente discutido no Brasil. Tema caro a todas nós, o Conversa de Historiadoras preparou um dossiê no qual cada uma discute a força do passado na sociedade brasileira. Circulamos os textos em separado, e aqui apresentamos todos reunidos.
O que documenta um monumento?
Hebe Mattos
A imagem da derrubada da estátua do traficante de escravos Edward Colston, no domingo, 7 de junho, em Bristol, na Inglaterra, no próprio dia circulou por todo o mundo. A repercussão do fato rendeu dois artigos na imprensa brasileira que eu tomo como ponto de partida para este texto.
O primeiro, publicado em 12 junho no site da BBC News Brasil, continuou a circular no twiter da empresa jornalística com a hashtag #MaisLidas, com uma foto da estátua do contrabandista de escravos africanos Joaquim Pereira Marinho protegendo duas crianças brancas em frente ao hospital Santa Izabel, no Largo de Nazaré, em Salvador, com a manchete: “Quem foi Joaquim Pereira Marinho, o traficante de escravos que virou estátua na capital mais negra do Brasil”.
Antes de ver a chamada do artigo no twitter, na quarta feira, dia 18 de junho, eu havia participado da banca de defesa da tese de doutorado em história de Silvana Andrade dos Santos, na UFF. A pesquisa segue a trajetória de consagração de dois outros renomados comendadores contrabandistas de escravizados da sociedade baiana e de um negociante estadunidense que se tornou cônsul daquele país em Salvador, após deixar de negociar com o frete de navios fabricados na Filadélfia para o tráfico ilegal. Ainda em plena vigência do contrabando, os três se tornaram acionistas fundadores daquela que se tornaria a maior fábrica de tecidos do Império brasileiro, na Imperial cidade de Valença, no Sul da Bahia, voltada para a produção de algodão para sacaria de fazendas escravistas e roupas de cativos. A memória pública da fábrica, desde finais do século XIX, faz questão de enfatizar que a empresa nunca teria utilizado trabalho de escravizados, o que absolutamente não é verdade. Alguns dos acionistas foram, inclusive, proprietários de fazendas voltadas para os desembarques clandestinos de cativos na região em que a fábrica foi instalada, o que pode ter influenciado a decisão de instalação do empreendimento. O trabalho estará em breve disponível online no repositório de teses do PPGH/UFF.
Hipóteses relacionando os capitais liberados pelo fim do tráfico com o desenvolvimento da indústria no Brasil oitocentista são antigas, mas o detalhamento do entrelaçamento das atividades ilícitas dos acionistas com estratégias de consagração social e diversificação de “investimentos” me impressionaram. Ainda impactada pela leitura da tese, compartilhei o twitt da BBC-Brasil com o comentário:
“Manchete e foto são um soco no estômago. Para refletir sobre o força do passado na sociedade brasileira”.

O segundo texto, dos historiadores Paulo Pachá e Thiago Krause, na Revista Época, do dia 19 de junho, contesta diversas manifestações na imprensa que criticaram o movimento pela retirada de estátuas que homenageiam antigos ditadores, traficantes escravistas ou colonialistas genocidas, entendido (o ativismo anti-estátuas) como ameaça ao patrimônio histórico, fundada no anacronismo. O texto é excelente e vale a leitura. Desenvolve um argumento fundamental e frequentemente ignorado: estátuas falam mais do tempo em que foram construídas do que dos personagens que celebram. O artigo destaca, ainda, a existência de moralidades em disputa na própria época em que as figuras controversas foram homenageadas.
Por que a estátua de Joaquim Pereira Marinho protegendo duas crianças brancas na capital mais negra do Brasil é um soco no estômago?
Porque foi construída no século XIX, pela instituição de caridade em que o personagem atuava, exatamente para ajudar a esquecer ou apagar o fato, amplamente conhecido, de que o homenageado havia enriquecido contrabandeando crianças negras escravizadas. Cada navio do tráfico ilegal transportou para o Brasil algumas centenas de jovens escravizados africanos, em sua maioria com menos de 12 anos de idade, desembarcados em praias de propriedade de fazendeiros traficantes, como os acionistas da fábrica de Valença, com alarmantes índices de mortalidade. A associação entre contrabando de escravizados e filantropia no século XIX está diretamente ligada à tentativa de apagamento de um passado pessoal desonroso, nos termos da época, como bem destaca Ana Lucia Araújo na reportagem da BBC.
Joaquim Pereira Marinho não esteve sozinho. O apagamento da memória da intensa participação ou cumplicidade dos construtores da estabilidade do estado imperial com o contrabando de cativos africanos ocupa lugar privilegiado na fabricação do racismo institucional brasileiro. Nas palavras de Joaquim Nabuco, ao escrever a biografia do pai, Nabuco de Araújo, “pode-se dizer mesmo que pareceu sempre mais fácil [para gerações sucessivas de estadistas] abolir a escravidão de um golpe do que fazer cumprir retrospectivamente a lei de 7 de novembro” (de 1831 que tornou ilegal o tráfico de escravizados no Brasil), o que fazia até mesmo liberais anti-tráfico, como Nabuco de Araújo, cúmplices do contrabando que, em alguma medida, combateram.
Somos herdeiros de um estado contrabandista de crianças africanas que ergueu muitas estátuas para apagar este fato. Nascidas desse solo institucional, é absolutamente revoltante, mas não de todo surpreendente, que nossas instituições continuem ignorando o assassinato contumaz de crianças negras por suas forças policiais, com ampla cumplicidade dos “cidadãos de bem” da vez.

crédito da foto.
Sobre destruição e reconstrução
Mônica Lima
“Pode não parecer, mas eu tenho uma história
Uma casa com alicerces profundos, paredes flexíveis.
No quintal uma mina d’água na sombra de um jequitibá.”
trecho de “História”, poema de Ana Cruz, publicado em SEMOG, Ele(org). Amor e outras revoluções, Grupo Negrícia. Rio de Janeiro: Pallas, 2019
Tenho acompanhado apaixonadamente as matérias jornalísticas e os debates sobre a derrubada e intervenção nas estátuas que homenageiam personagens cuja trajetória esteve ligada ao tráfico escravista, à própria escravidão, ao colonialismo e à diversas expressões de racismo. Leio e mal posso controlar meu entusiasmo, tornam-se um sopro de energia no meio da onda nefasta que me é trazida pelo assassinato sistemático de negros, o extermínio consentido de povos indígenas, as mortes da pandemia e a vida política do nosso país – cujas notícias vinham desnutrindo cotidianamente minha força vital.
Como historiadora e cidadã, reconheço que não é simples a discussão, e que há que se escutar e pesar bem os argumentos que assinalam o significado de um monumento para o entendimento da história, o valor de um patrimônio e a impossibilidade de estarmos destruindo e reconstruindo permanentemente nossas cidades e logradouros para que sejam erguidas estátuas, praças e prédios com outros personagens e referências. No entanto, nenhuma dessas ponderações até agora me convenceu que os movimentos e ações levadas a cabo por manifestantes em diferentes partes do mundo estejam equivocados. Muito pelo contrário, a articulação que esses movimentos recentes trazem com a campanha internacional #vidasnegrasimportam os tornaram não apenas oportunos como situados ao lado da justiça e da defesa de causas fundamentais para o momento em que estamos.
Vale lembrar outra história, que algumas vezes têm estado presente nesse debate. Em 2015, estudantes e ativistas sul-africanos iniciaram uma campanha para a retirada da estátua em homenagem a Cecil Rhodes na Universidade do Cabo, na África do Sul. Esta campanha teve como um de seus líderes um estudante bolsista de origem popular da universidade, que se chamava Chumani Maxwele, e que protagonizou uma ação de inequívoco desprezo pelo monumento atirando fezes na estátua. O caráter desse gesto causou espécie a muitos, e deu partida tanto a uma discussão sobre o “respeito ao patrimônio” como sobre o que deveria ser a conduta “mais adequada” de uma manifestação política. Outras lideranças estudantis surgiram, e o movimento cresceu, alcançou outras universidades fora da África do Sul, ganhou espaço na imprensa internacional e nas redes sociais e… Rhodes caiu. Porém, para além da vitória dos ativistas, o movimento #RodhesMustFall abriu espaço para um debate – que já existia, mas se fortaleceu – sobre o ensino de história da África do Sul e as diferentes perspectivas presentes nesse mesmo processo, considerando que estudantes africâneres também haviam engrossando a campanha, por questionarem a presença de uma visão favorável ao colonialismo inglês.
A história ocorrida na África do Sul nos permite pensar um pouco mais sobre o quanto ainda temos que avançar, no nosso país, no ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e no conhecimento e reconhecimento de espaços e monumentos que nos remetem a nossa ancestralidade, a nossa luta, e aos personagens que as protagonizaram. Os monumentos que homenageiam os que se dedicaram a oprimir, a destruir e desvalorizar nosso passado presente negro africano podem e devem ser deslocados ou ressignificados, quando sua presença nos causar dor e ofender nossa autoestima. E por isso é importante debater sobre eles, problematizá-los. Mas, é importante também pensarmos em como produzirmos outros monumentos e ocupar a cidade com outras histórias.
Numa discussão com o grupo de representantes do conselho consultivo do Museu de História Africana e Afro-brasileira – projeto hoje silenciado – junto com a historiadora Martha Abreu, iniciamos um importante e rico debate sobre as formas de representar a história da escravidão, marcada pela violência e sofrimento, mas também pela criação, resistência e enfrentamento por parte das pessoas postas em situação de cativeiro. Foi apenas um começo, mas já nos anunciou as grandes possibilidades que esse caminho abria. Como romper com os estereótipos sustentados por imagens e textos que historicamente subalternizavam os escravizados? Como trazer questões contemporâneas, urgentes, como o debate sobre reparação e associá-lo a essa história, sem reduzir toda a explicação da força do racismo na nossa sociedade à escravidão? Como exibir, apresentar visualmente e materialmente esse passado presente – trago o termo remetendo conscientemente ao projeto que o consagrou – de forma a valorizar nossa história e a luta da população africana e negra? Certamente, não tenho respostas imediatas, mas a certeza que ampliar essa discussão e ouvir – e considerar – as pessoas e comunidades mais diretamente envolvidas nos efeitos desse passado sensível é a melhor maneira de dar conta dessas questões.
Valorizar essa história, com seus alicerces profundos e paredes flexíveis (como lembra o lindo poema de Ana Cruz, que recomendam que leiam todo), terá o poder de reconstruir e ressignificar o nosso patrimônio, a cidade e o país.

Pela desmonumentalização do racismo em escala global
Ana Flávia Magalhães Pinto
Em 1926, quando Monteiro Lobato lançou o romance de ficção científica Choque das Raças, depois rebatizado de O Presidente Negro, o Brasil se aproximava da marca de 40 anos da abolição, enquanto os EUA tinham acabado de contabilizar seis décadas desde que se oficializou nacionalmente a emancipação, em 19 de junho de 1865, o Juneteeth.
Nos EUA, as leis Jim Crow, que tornavam legal a segregação racial, pavimentavam por lá também uma “falsa abolição”e encorajavam linchamentos e massacres coletivos contra a população negra, sabotando o sucesso de black towns e bairros negros. Enquanto isso, por aqui, reverberavam projeções de homens de ciência, letras e Estado que apostavam na eliminação da visualidade da presença negra por força do aumento do “elemento branco” via imigração, mestiçagem e outros expedientes. Violências ausentes ou suavizadas nos livros escolares de ambos os países por muito tempo.
Optei por trazer o romance de Lobato, não só porque ali podemos acompanhar um registro do consenso acerca do “não lugar” da população negra no Brasil e nos EUA, mas também porque o romance, o autor e as questões que o mobilizaram a escrever nos permitem refletir sobre o processos de monumentalização do racismo no passado, no presente e no futuro. Não por acaso, uma vez que a obra de Lobato entrou em domínio público no ano passado, estamos assistindo a uma série de tentativas de protegê-lo, tal como às estátuas de Borba Gato e do conde Pereira Marinho, de qualquer atitude de “vandalismo” promovida por “iconoclastas antirracistas” – acusações que circulam em mais bocas que a de um jornalista convicto da sua objetividade.
A ação do romance de 25 capítulos se passa no ano do lançamento da obra, mas seus personagens centrais Ayrton Lobo e Miss Jane, filha do professor Benson, estão às voltas com fatos ocorridos em 2228. Benson era descendente de um mineralogista norte-americano que havia se fixado em São Paulo no século XIX, casando-se com a filha de um fazendeiro, por certo escravista. Benson havia inventado uma máquina do tempo e escondia o feito num castelo habitado por “criados mudos”. Curiosamente o evento histórico que mais chamou a atenção de Miss Jane foi a eleição do primeiro presidente negro nos EUA, 363 anos após o fim da escravidão.
Muitos conhecem essa história por conta das citações feitas quando da eleição de Barack Obama em 2008. Mas eu gostaria de chamar atenção para elementos menos destacados.
No sétimo capítulo, intitulado “Futuro e Presente”, Ayrton e o professor Benson entram num gabinete do castelo em que Miss Jane observa o porvir através de um globo de cristal. Ao se dar conta da presença deles, ela comenta: “Papai, estou no fim da tragédia, do crepúsculo da raça. Dudley ganhou uma estátua.” A identidade de Dudley só começa a nos ser revelada no capítulo 20 “Convenção Branca”. Diante da vitória de Jim Roy nas eleições de 2228, a liderança negra de pele já esbranquiçada e cabelos crespos, uma convenção de homens brancos seria realizada a fim de encontrar uma saída para a “tragédia”. John Dudley é apresentado como “o pai da côr numero 8 e autor de 72 invenções”. Ele seria responsável pela descoberta dos raios ômega, que não só alisariam definitivamente os cabelos crespos de todos as pessoas negras, completando o processo de embranquecimento físico, como funcionaria como uma ação genocída, uma vez que, secretamente, promovia a esterilização de quem fizesse uso.
A posse do presidente negro não acontece, como parte do plano. E, tendo sido responsável por promover a resolução final para uma “dor de cabeça histórica” enfrentada por longos séculos, decênios mais tarde Dudley seria homenageado por meio de edificação de um busto seu, um “monumento de gratidão erigido pelo sócio branco em homenagem ao sócio negro”. Ou seja, homenageava-se o causador branco da extinção do negro.
Além da projeção da eliminação negra nos EUA, o romance de Lobato não reconhece qualquer ação política negra no Brasil ainda no século XX e depois. A julgar pelos comentários dos personagens locais, as decisões já haviam sido bem encaminhadas nos termos que por aqui teria funcionado melhor: contornando o equívoco da mestiçagem, a porção do Brasil temperado se juntaria com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, passando a ser habitada só por brancos e se mantendo próspera; enquanto o restante do território seguiria “sofrendo o erro e suas consequências”.
Sintoma do fracasso das leituras e projeções de Lobato e outros como João Batista de Lacerda, a pensadora negra Lelia Gonzales, em 1988, expôs sua perspectiva de leitura das experiências da gente negra neste lado de cá, por meio do conceito de “Amefricanidade”. Afora repertórios culturais e ancestrais comuns, Lelia encorajava análises das ações históricas negras em perspectiva transnacional, de modo a até mesmo romper a fronteira da América Latina e incorporar o vivido por nossa gente negra nos EUA, ainda visto por muitos como a expressão oposta da formação racial brasileira.
O desafio proposto por Lelia Gonzales está sendo reafirmado nas últimas semanas, como também deu a ver a escritora haitiana Edwidge Danticat, em seu artigo “So brutal a death”, publicado no jornal The New Yorker, em que ela demonstra como as reações ao brutal assassinato de George Floyd são ressonâncias de longas lutas contra o racismo antinegro em escala global. Algo que até mesmo fez com que funcionários africanos de alto nível das Nações Unidas tenham apresentado um manifesto na última semana e que uma tentativa de reposicionar a agenda da Década Internacional de Afrodescendentes esteja em curso.
O que estamos assistindo e realizando mais uma vez são expressões de sujeitos históricos negros múltiplos, que têm trajetórias de longa duração, mas que não cabem em matrizes narrativas que pressupõem a nossa inexistência, eliminação ou, quando muito, uma absoluta subalternidade. Matrizes narrativas que até permitem o esboço de comoção perante as evitáveis mortes de homens, mulheres e crianças negros, mas priorizam a defendesa do valor cívico e civilizatório atribuído a estátuas, escritores e práticas de sociabilidade que autorizaram a negação da nossa humanidade e cidadania, legitimaram linchamentos e genocídios. Essas matrizes narrativas em que a liberdade negra só faz sentido como causadora de uma “dor de cabeça histórica”, como registrado no romance de Lobato.
É importante dizer que tal dinâmica também sequestra nossa capacidade, como dissidentes, de reconhecer e nos apropriar profunda e seriamente das lutas negras. Tenho batido na tecla da necessidade de se pensar a liberdade, porque compartilho do entendimento de que fazer isso, numa sociedade estruturalmente racista, é caminho de acesso dados empíricos que deixem cada vez mais evidente a centralidade do racismo e as formas como ele opera em múltiplas direções. Precisamos ir além do que nos foi autorizado a pensar. Para fazer frente ao consenso acerca da irrelevância histórica da gente negra e de seus questionamentos, precisamos radicalizar nossas agendas de disputa das múltiplas narrativas sobre nós.

crédito da foto.
Os deuses gregos e o Valongo: um caso exemplar de estátuas fora do lugar
Martha Abreu
Quem visita o Cais do Valongo hoje, local de chegada de aproximadamente 1 milhão de africanos escravizados, tem dificuldades para imaginar quantas transformações aquele espaço já passou para esconder um dos maiores crimes contra a humanidade, como tão bem demonstrou José Pessoa. Da antiga praça do mercado, onde se localizava o Cais da imperatriz, projetada por importantes engenheiros e arquitetos da Corte para mostrar a civilização do Império do Brasil, só restou mesmo, e não sei bem os motivos, o obelisco, outrora um chafariz (um dos muitos destinados ao abastecimento da cidade). A coluna de granito, bem visível, ficava ao centro de um tanque regular, não mais existente, e ainda sustenta uma esfera armilar e três setas de bronze, símbolo das armas da cidade.
Mas como o assunto são as estátuas, vou me ater ao sumiço de quatro estátuas de deuses gregos (ou romanos?) que lá tinham sido colocados em 1843 para receber (e impressionar?) a princesa napolitana Teresa Cristina, futura esposa de D. Pedro II e imperatriz do Brasil. Quem teria tirado as estátuas dos deuses gregos? Foram arrancadas, destruídas ou foram para algum museu? Alguém protestou ou fez algum movimento para que permanecessem no local?
Ironias a parte, ficamos sabendo que as estátuas atravessaram o século 19 e dali só foram retiradas em função das obras de reforma do porto, empreendidas pelo então prefeito Pereira Passos, no início do século 20. Não satisfeito de enterrar mais uma vez o passado africano, Pereira Passos enterrava também o passado imperial com a construção do porto moderno (e republicano) e com a retirada das estátuas do Cais.
Mas se o visitante seguir pelo Circuito da Herança Africana, idealizado quase 100 anos depois pela prefeitura de Eduardo Paes, encontrará as estátuas dos deuses gregos!!! Elas estão muito bem conservadas e imponentes no Jardim Suspenso do Valongo, um jardim elevado alguns metros da rua, construído por Pereira Passos (simbolicamente associado aos jardins da babilônia), em 1906, quando da abertura da velha rua do Valongo (hoje Camerino). A ideia do arquiteto Luis Rei era um jardim para deleite e passeio em lugar aprazível, bem de acordo com a política municipal de embelezamento – e branqueamento – da cidade de acordo com o gosto europeu. Mas logo ali?
Pouco se sabe da origem ou autoria das estátuas de mármore que representam os deuses Minerva, Marte, Ceres e Mercúrio. Mas, muito diferente dos marcos da presença africana na região, como o Cemitério dos Pretos Novos (IPN) e a Pedra do Sal, foram muito bem cuidadas e protegidas – não tenho dúvidas. Junto com o Jardim, as estátuas receberam proteção do IPHAN através do tombamento realizado em 1938. Na década de 1990 teriam saído dali para um apurado trabalho de restauração. Em 2014, quando das reformas do “porto maravilha” e do próprio Jardim Suspenso por Eduardo Paes, as estátuas teriam retornado ao Jardim por decisão do prefeito, pelo que pude apurar (não consegui descobrir ao certo se as que ali se encontram são as originais, ou não, posto que foram feitas cópias para garantir total proteção). Era o “porto maravilha”.

Foto Guilherme Hoffmann. Projeto Passados Presentes.
Com certeza, é bom saber que estátuas da primeira metade do século 19, peças decorativas de um cais para receber uma princesa europeia, tenham sido tão consideradas e valorizadas. A municipalidade pagou por elas, são obras artísticas e patrimônios tombados. Perfeito! O que não é nada perfeito é só elas terem recebido tratamento e destaque especial, quando vemos que o patrimônio afro-brasileiro na região só com enorme mobilização dos movimentos sociais mantém presença e visibilidade.
A pergunta que não pode calar é: Qual o sentido de visitarmos o Jardim Suspenso hoje e seus deuses gregos, se não sabemos o que suas estátuas realmente significaram quando foram colocadas no Cais e depois transferidas para o Jardim? Preciso confessar que não defendo a remoção das estátuas para algum museu, muito menos que sejam derrubadas ou destruídas, até porque todos os deuses merecem respeito. Esses, por sinal, não têm responsabilidade alguma com a história do tráfico, muito menos com as políticas racistas e de branqueamento da primeira república. MAS ELAS NÃO PODEM FICAR ALI SOZINHAS, registrando só um lado da história – esse é o ponto!!!!!
Ao longo do século XIX, essas estátuas ajudaram a esquecer o local de entrada de africanos escravizados. Ao longo do século XX pousaram com “olhar de paisagem”, certamente sem entenderem nada, no coração da Pequena África, onde os descendentes de africanos escravizados construíram um Brasil negro e antirracista com seus orixás, sambas, carnavais, associações dançantes, religiosas e de trabalhadores. Sua presença ali, sozinhas, indicam a vitória de uma única memória, passado e história. Basta. É hora de mudança no sentido de construção de uma história pública que registre a presença negra no espaço urbano.
Mas ainda cabe uma pergunta: o que fazer com as estátuas agora? Já ouvi ótimas e criativas respostas de alunos e visitantes (como por exemplo, pintá-las de preto, cobri-las com um pano preto). Vale talvez uma ampla discussão e consulta com a população e movimentos sociais da Pequena África, mas meu voto será para deixá-las ali mesmo como testemunhas do racismo na decoração do espaço urbano. Por outro lado, todos os deuses podem ajudar na reconstrução do passado e no fim do silenciamento da história dos afro-brasileiros.
Podemos começar com a sugestão de mudança do nome do próprio Jardim Suspenso para Mirante da Pequena África, proposta que eu e Monica Lima desenvolvemos no Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (MUCHAB), já que dali se avistam a Praça dos Estivadores, a Rua Barão de São Felix, o morro da Providência, a Central do Brasil, os morros das primeiras Escolas de Samba e a velha Praça Onze, locais de memória da história negra na cidade do Rio de Janeiro. Outra possibilidade é invadirmos o velho espaço de Pereira Passos com estátuas de deuses africanos e personalidades negras que protagonizaram a história da região e do Brasil, como Tia Ciata, que, aliás, já está ali, a Rainha Mandinga, Mãe Aninha, Monteiro Lopes, Mano Eloi, Pixinguinha e muitos outros. Só desta forma os deuses gregos, ou melhor, as estátuas dos deuses gregos, podem permanecer na Pequena África.

Foto Alexandre Macieira, Riotur.
Isto não é uma estátua
Keila Grinberg
Algo está muito errado em uma sociedade cuja polícia protege suas estátuas e ataca seus cidadãos. Ainda mais quando a polícia ataca os descendentes daqueles a quem a pessoa representada pela estátua escravizava.
Desde que a derrubada de estátuas de traficantes e escravocratas passou a integrar os protestos anti-racistas contra a violência policial na Inglaterra e nos Estados Unidos, a polícia de São Paulo vem protegendo a estátua de Manuel de Borba Gato (1649-1718), símbolo do bando que escravizava, estuprava e assassinava indígenas e negros.
O mais interessante é que, no contexto dos atuais protestos, nem a estátua de Borba Gato nem qualquer outra foi de fato ameaçada no Brasil. O que houve aqui foi um civilizado abaixo-assinado, demandando das autoridades a remoção da escultura. Mas só a possibilidade de que algo pudesse acontecer ao monumento gerou uma reação de tal monta que só pode ter sido causada pelo medo branco à simples ideia de uma onda negra entre nós.
Onda negra, medo branco é o título do livro de Celia Azevedo (Paz e Terra, 1987), cujo tema é o medo dos escravocratas brasileiros de que houvesse no Brasil uma rebelião de escravizados como a que houve na colônia francesa de Saint Domingue em 1791 e levou à independência do Haiti. Ao longo do século XIX, o pavor sentido pela elite brasileira foi usado como justificativa para a repressão desmedida contra qualquer ação de resistência da população escravizada. No pós-abolição, ele foi traduzido em políticas públicas excludentes e em violência racial.
Em geral, há dois argumentos usados por aqueles que defendem a manutenção das estátuas nos espaços públicos. Uma é o seu valor como obra de arte. Convém lembrar, nesses casos, que a prática de intervir em objetos, mesmo aqueles de indiscutível valor artístico, faz parte da própria dinâmica de constituição dos espaços públicos. Um exemplo: quem visita o Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem a oportunidade de apreciar o portal da Real Academia de Belas Artes, projetado pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny. Até 1908, o portal ficava no edifício da escola, próximo à praça Tiradentes, no centro da cidade. Com a demolição do prédio, ele foi removido e integrado à belíssima Aléia das Palmeiras, projetada no século anterior. Ficou lindo — mas totalmente descontextualizado de sua função original.

O outro argumento contra a intervenção nas estátuas diz respeito ao seu suposto valor histórico. Remover uma estátua seria como apagar a História, argumentam alguns. Aqui é hora de lembrar que as estátuas são monumentos erigidos com a intenção explícita de homenagear pessoas ou acontecimentos do passado. Elas não são o passado.
A estátua que você vê na rua nunca é só uma estátua. No caso de esculturas que homenageiam pessoas, elas sempre remetem pelo menos a três tempos: ao tempo em que o homenageado viveu; ao tempo que o objeto foi elaborado; ao tempo presente, quando ele é cotidianamente ressignificado por aqueles que o vêem.
Quando uma estátua deixa de ser uma estátua e passa a ser objeto de disputas? Talvez todas sejam. Outro exemplo: bem no centro do calçadão da praia Vermelha, que eu frequentava quase diariamente antes do início da pandemia, jaz a escultura em bronze que representa o compositor polonês Frederic Chopin (1810-1849), de Augusto Zamoysky. O monumento, inaugurado em 1944, foi transferido seis anos depois para a praça Floriano, de onde retornou em 1959. Pois outro dia descobri que o monumento foi um presente da Associação dos Poloneses do Rio de Janeiro em desagravo à destruição de uma estátua de Chopin em Varsóvia, quando a cidade foi invadida pelos nazistas. Símbolo do nacionalismo romântico polonês, a imagem do compositor já havia sido atacada pelos russos no século XIX, que proibiram suas músicas e até destruíram seu piano. O presente da comunidade polonesa à cidade do Rio de Janeiro não deixa de ser um protesto e uma afirmação da independência polonesa. Hoje em dia nós, frequentadores do local, sequer notamos a escultura.
Por que ninguém ataca a escultura de Chopin aqui no Rio? Por que tanto pavor é suscitado pela mera discussão sobre o destino dos monumentos que representam assassinos, escravizadores, traficantes? Porque é este o passado que nós precisamos, aqui no Brasil, confrontar. Porque este é o passado do nosso desconforto, aquele que ainda não passou.
Ao invés de lidar com os nossos traumas, nós reforçamos os mitos da ausência de conflito em nossa história: fomos os únicos a proclamar a independência sem guerra; nossa escravidão foi abolida sem sangue, no Parlamento; nossa ditadura militar começou a ser finda com uma lei que anistiava resistentes e torturadores. Enquanto negamos os conflitos, convivemos com o racismo, com a violência, com a sombra do autoritarismo.
Confrontar o passado exige que reconheçamos seus horrores. Para começar, podemos deixar de homenagear ditadores e escravistas em nomes de ruas, praças, escolas. Talvez assim consigamos ver o dia em que a polícia vai deixar de proteger as estátuas e se dedicar a seus cidadãos.

crédito da foto.
Estátuas, inadequações e o poder das “alternativas”
Giovana Xavier
Uma garotinha passava com a mãe diante da estátua de um europeu que havia dominado um leão feroz com as próprias mãos. A garotinha parou, olhou-a intrigada e perguntou: “Mamãe tem uma coisa errada com essa estátua. Todo mundo sabe que um homem não consegue ser mais forte que um leão”. “Mas querida”, respondeu a mãe, “não se esqueça de que quem fez a estátua foi o homem”.
(Karl Mannheim, Ideologia e Utopia Apud Patricia Hill Collins, Pensamento Feminista Negro, 2019, p. 402).
Ando em uma fase de muitas mudanças internas, que também têm repercutido nas minhas identidades e projetos profissionais. Dei-me conta disso em março de 2020, quando profundamente angustiada, com mais perguntas do que respostas, decidi pausar o ativismo intelectual nas redes sociais. Esse período coincidiu com a chegada da pandemia racial global COVID 19 ao Rio de Janeiro, culminando em políticas emergenciais de isolamento social. Ressignificado como recolhimento, o estar em casa, focada inteiramente na família, no trabalho doméstico e na produção acadêmica individual tem me suscitado reflexões densas sobre rupturas e conquistas oriundas de concepções sobre ativismo, ciência e política.
Dentro desse contexto de revolução pessoal, acontecimentos do último mês e suas repercussões em meios acadêmicos, ativistas e midiáticos levaram-me a pensar sobre a “inadequação” entre a formação recebida como historiadora social e os projetos acadêmicos de ativismo científico que conduzo na UFRJ. Resumidos aqui em dois: O Grupo Intelectuais Negras e o Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes Diversidade. Assim, a ideia do texto é comentar algumas das referidas reflexões dentro do contexto de ebulição política nacional e internacional em que se inserem. Para isso, fundamento-me nos debates de Patricia Hill Collins sobre a importância de intelectuais negras construírem “epistemologias alternativas” no meio científico:
Percebi que minha formação como cientista social era inadequada para a tarefa de estudar o conhecimento subjugado do ponto de vista das mulheres negras. Isso porque os grupos subordinados perceberam há muito tempo que é necessário recorrer a formas alternativa para criar autodefinições e autoavaliações independentes, rearticulando-as por meio de nossos próprios especialistas. Como outros grupos subordinados, as afro-americanas não apenas desenvolveram um ponto de vista específico das mulheres negras, mas usaram formas alternativas de produzir e validar o conhecimento para isso.
O assassinato de George Floyd, as manifestações e os atos políticos de derrubada de estátuas de um traficante de escravizados na Inglaterra e de um general confederado nos EUA tiveram grande repercussão no Brasil. Com uma série de autoavaliações sobre o valor e o lugar do trabalho intelectual de mulheres negras, recusei a chuva de convites da mídia e de organizações sociais para debater a temática. Estes nãos foram importantes para observar à distância as situações, pensando – na pausa – sobre meus incômodos diante da divisão entre contrários e favoráveis a ir às ruas protestar, a derrubar ou não estátuas. Penso que a construção do debate público focado na polarização dificulta, especialmente, que os “grupos subalternizados” dialoguem sobre “formas alternativas de produzir e validar conhecimentos” para avançarmos em nossas pautas.
Como professora, uma das coisas mais potentes que observo em sala de aula é quando estudantes tomam posse da autoria, da criação. Um processo que demanda o estudo, a observação e a criatividade que ser contrário ou favorável não suscita. Lembro-me, por exemplo, das dificuldades nas orientações de pós-graduação quando chega o momento da escrita de monografias e dissertações. Em geral, estudantes sentem-se “paralisadas”, “perdidas”, “desesperadas”, para usar alguns dos adjetivos que me chegam em relatos de dor e sofrimento característicos dos processos de se tornar autora. Estes sentimentos relacionam-se ao pressuposto de objetificação feminina negra e também à naturalização das divisões e polaridades como única possibilidade de definir posições e lugares de fala. Saindo do meio universitário, já repararam que no geral quando perguntamos, qual é a sua proposta? poucas pessoas apresentam “alternativas”.
Aqui entramos em um segundo nível do raciocínio. Uma vez que as “propostas alternativas” são reduzidas quem as apresenta passa a ser tratado como problema, o que no espaço acadêmico significa desqualificação da produção, preterimento de recursos de financiamento e da participação em espaços decisórios, entre outras situações que também foram enfrentadas por Azoilda Loretto da Trindade (10/12/1957-13/09/2015), Beatriz Nascimento (17/07/1942-28/01/1995), Lélia Gonzalez (01/02/1935-10/07/1994), entre muitas outras. Considero que é tempo de mudar a direção de nossos holofotes, diaogando mais sobre alternativas ao racismo, que está bastante longe de ser superado, do que confinando-nos à posição de rebate-lo. Por experiência própria, a energia gasta em debates entre contrários e favoráveis é tão intensa que, dificilmente, depois conseguem-se criar “alternativas”. Assim, ciente do impacto de meu trabalho intelectual entre universitárixs negrxs, chamo a atenção para o investimento pessoal necessário à formação individual. Isso demanda autoconhecimento e coragem para girar a chave interna do denunciante ao criador de projetos políticos “alternativos”, verdadeiramente centrados nos conhecimentos das classes trabalhadoras.
No Brasil, o Feminismo Negro Radical é nossa principal “alternativa” hoje. Ele é teorizado e praticado por intelectuais negras como Lúcia Xavier, Mônica Cunha e as sessenta e cinco ativistas assim como eu apoiadas como “líderes” pelo Programa de Aceleração e Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras Marielle Franco do Fundo Baobá para Equidade Racial . Ativistas que ao definirem de formas plurais o sujeito político mulher negra oferecem projetos inovadores para construção de “alternativas” em áreas como comunicação, educação, direitos humanos, finanças, política institucional, saúde. Dito tudo isso, entro na terceira e última parte do texto, relacionada a contextualizações históricas que considero importantes para as lutas do tempo presente.
A primeira relaciona-se à absurda revogação da portaria normativa nº 13 de 2016 que dispõe sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação das universidades federais. Assim como a Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas instituições de ensino foi uma conquista sobremaneira ligada ao trabalho de professores da educação básica e ativistas dos movimentos sociais negros (majoritariamente mulheres negras), a implantação das ações afirmativas em programas de pós só deve-se muito ao intenso ativismo intelectual da comunidade estudantil. Em diferentes universidades brasileiras, de forma independente e através da Associação Nacional de Pós-Graduandos, mestrandos e doutorandos participaram de comissões e colegiados universitários, integraram grupos de trabalho, realizaram pesquisas, produziram documentos, mapeamentos, Importantíssimos para a criação do Grupo de Trabalho Inclusão Social na Pós-Graduação da Capes, muitos desses estudantes dos “grupos subalternizados” sofreram retaliações de setores acadêmicos conservadores. Retaliações estas que culminaram em evasão, problemas de saúde mental, perda das já escassas oportunidades de auxílios e bolsas de fomento à pesquisa.
Fiquei pensando muito nessas histórias não contadas, quando no decorrer da semana, acompanhei colegas que, em diversas ocasiões, mostraram-se reticentes e contrários às cotas raciais (“no Brasil o problema é social”) e às políticas de identificação por raça de pesquisadores na plataforma Lattes do CNPq, compartilhando notas de repúdio. Arrematadas por discursos inflamados sobre a inadmissibilidade do racismo estrutural no Brasil. Como mostra Nilma Lino Gomes, o acesso à educação é uma luta histórica da população negra. E para assegurarmos a manutenção das conquistas assim como ampliá-las também é necessário refletir sobre o sistema de poder e privilégios que fundamenta a ciência brasileira e o que verdadeiramente precisa ser derrubado. Nesse sentido, indispensável conferir a pesquisa As negras e os negros nas bolsas de formação e de pesquisa do CNPq. Para 2015, de acordo com os dados levantados pelo CNPq, observa-se que a distribuição das bolsas de produtividade científica (PQ- voltadas a professores) deu-se da seguinte forma no grupo feminino: 75,5% para mulheres brancas; 6,2% para mulheres pardas e 0,8% para mulheres pretas. Este panorama relaciona-se ao início do texto sobre “inadequação” entre formação recebida e projetos acadêmicos realizados.
A segunda contextualização diz respeito à importância de aprender com as memórias traumáticas de dor, sofrimento e desigualdades nas quais a história do Brasil alicerça-se. Um dos antídotos está em “alternativas” que temos condições de fazer de imediato. Entre elas, visibilizar histórias silenciadas, tão presentes em nosso dia a dia. Aqui em terras cariocas, temos Tim Maia (28/09/1942-15/03/1998), um dos maiores músicos brasileiros, ocupando o centro da Praça Afonso Pena na Tijuca. Mercedes Batista (20/05/1921-19/08/2014), primeira bailarina negra na história do Theatro Municipal (salvo engano única), recebendo-nos majestosamente no Largo da Prainha, zona portuária. No Complexo de Favelas da Maré, temos a Escola de Desenvolvimento Infantil nomeada Azoilda Loretto da Trindade, após incessantes lutas e articulações de professoras negras como Angela Ramos, Janete Santos Ribeiro e Marta Muniz Bento. Eu que tive a honra de conhecer e ter Zó (Azoilda) como uma grande mentora fico esperançosa e feliz de saber que sua história e legado fazem-se presentes na vida de crianças negras da favela, que são o presente-futuro do Brasil.
Despeço-me inspirada por estas pessoas monumentais, ligadas à nossa ancestralidade e a projetos de vida “alternativos”, que são os que verdadeiramente importam.

crédito da foto.





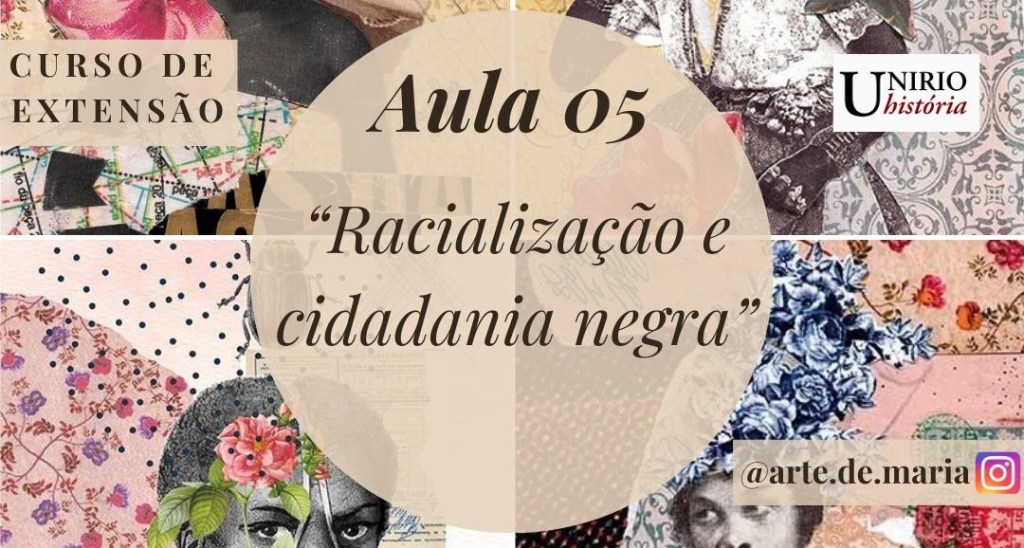


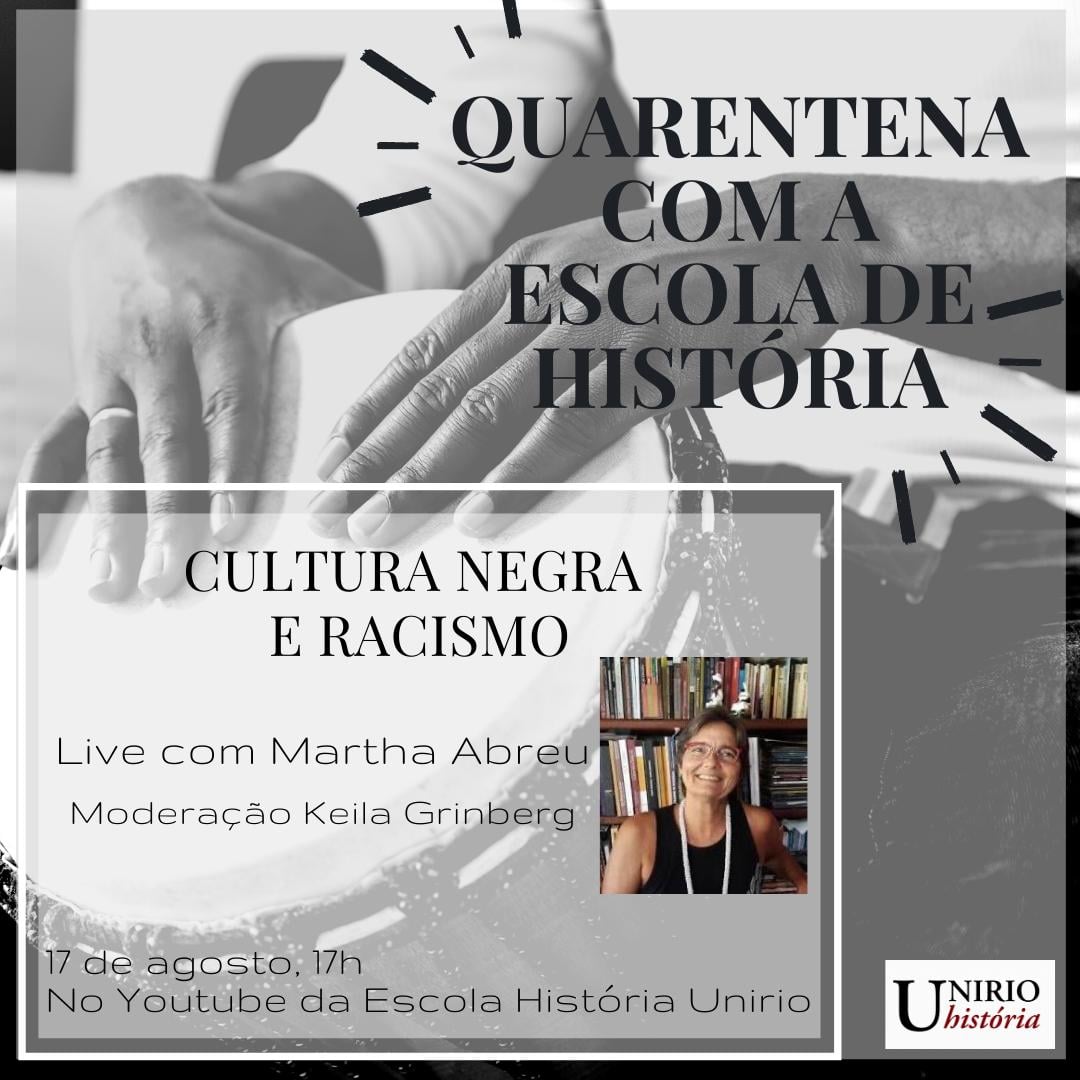















 Passados Presentes
Passados Presentes