“Parabéns por sua trajetória brilhante!” Foi ao som destas palavras que meu domingo de Dia das Mães iniciou-se. A fala de tia Lena guarda relação com meu passado-presente. A despeito das significativas conquistas das populações negras nos últimos anos, continuamos sendo exceção nos lugares de reconhecimento e prestígio. Isso gera a nossa convivência forçada com a ambígua imagem do “brilhantismo”. Se por um lado ser “brilhante” aponta para transgressões à realidade de pobreza e marginalização das famílias negras, quem reluz vê-se diariamente confrontada com o violento lugar da excepcionalidade.
Dependendo das lentes com as quais escolhemos encarar, os raios refletem a regra a qual, duramente, nos constituímos como exceção. O regramento da violência, da pobreza, da criminalização e da patologização da população negra no Brasil, que ainda é gritante como demonstram o Movimento das Mães de Maio (SP), protagonizado por mulheres como Debora Silva Maria, que ao lado de suas companheiras “escreve de dentro da guerra” e o Movimento Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, organizado por representantes de comunidades e movimentos sociais negros da capital e do interior da Bahia e que manifestam seu “compromisso com a vida” lutando contra o genocídio da população negra.


Foto: Quilombo-Xis Ação Cultural Comunitária da Campanha Reaja ou Será Morta! Reaja ou Será Morto!
***
Como acadêmica negra, aprendo diariamente com meus estudantes, que é às custas do racismo institucional com suas violências naturalizadas (muitas das quais acompanhamos de perto com amigos e familiares), que nossas próprias trajetórias meritocráticas ganham forma. Articulando as datas comemorativas e apostando que as celebrações, para nós historiadoras, devem ser apropriadas como momentos para problematizações das desigualdades sociais, acho oportuno relacionar o Dia das Mães aos passados-presentes da escravidão e da liberdade e que constituem a história do Brasil.

O Dia das Mães foi uma data que sempre me incomodou. Quando era criança, as festas na escola aconteciam sem a presença de minha mãe. Cresci ouvindo que ela não podia ir porque estava trabalhando. Penso que reside aí num desses becos de minha memória, uma das explicações do porquê ter me tornado uma historiadora das relações de gênero. Uma filha que em determinado momento da vida aprendeu a pensar que menos do que “não poder ir”, o dia e o horário das festas eram pensados para que minha mãe e outras trabalhadoras não estivessem lá, celebrando suas crias. Esse violento aprendizado da separação entre estudo e trabalho relaciona-se com desigualdades estruturadas de tal forma que nos fazem naturalizar – desde cedo – que existe o direito de estudar e o dever de trabalhar. Ainda hoje milhões de crianças são educadas assim. Ou seja, a partir da ideia de que devido ao fato de sermos negras e pobres, estudar significa aprender a ler, escrever e fazer contas. É por causa dos ecos desta visão racista relacionada ao passado da escravidão, à precariedade do trabalho no pós-abolição e ao ódio de classes (crescente nos últimos tempos) que na universidade ouvimos recorrentemente nossos estudantes de origem popular afirmarem “este lugar não é para mim”.
Em sociedades pós-escravistas, a ideia de que cada pessoa tem seu lugar permanece recriada de diversas formas. Basta observarmos os números do trabalho doméstico, de jovens negros assassinados por agentes do Estado e das 200.000 crianças e adultos (especialmente mulheres) que vivem em situação de escravidão. A convicção de que há lugares – de classe, raça, gênero, sexualidade – prontos e imexíveis, compartilhada descaradamente em debates parlamentares como o da redução da maioridade penal, do Escola sem Partido, da criminalização do aborto, dos estudos de gênero e do ensino de história da África e cultura afro-brasileira, para ficarmos apenas com alguns exemplos, fazem parte deste legado. Um legado que por seu turno confere sentido histórico à admissão do processo de impeachment contra a Presidenta Dilma Roussef (processo este até o presente momento anulado pelo presidente interino da Câmara, o deputado Waldir Maranhão).
A despeito das críticas ao governo, que não nos faltam, o que ocorre é que há um ódio generalizado frente às conquistas das classes pobres, que pela primeira vez em nossa história, ocupam (não sem barreiras e contradições) lugares antes exclusivos das classes altas. Se nos meus tempos senti saudade de muitas coleguinhas que foram embora da escola para trabalhar como empregadas domésticas, essa prática hoje, embora ainda aconteça, também diminuiu bastante graças a programas sociais como o Bolsa Família.
Tal política tem garantido o acesso a direitos essenciais como alimentação, educação e saúde. Infelizmente e não por acaso, pessoas (ditas) “de bem” não consideram em seus discursos de ódio contra pobres, negros, nordestinos, que a bolsa do governo, dividida em várias modalidades, que variam de R$35 e R$336 por mês (a depender da renda e do tamanho da família), contribui para combater a extrema pobreza no país. Isso relaciona-se com discussões sobre mulheres, maternidade e direitos. Relaciona-se com o compromisso de manter as crianças, onde eu creio que elas devem estar, na escola. Que bom que vivemos (ainda) em uma sociedade democrática, na qual temos os direitos de discutir a organização dos direitos e de escrever a história a partir de diferentes pontos de vista.
E por falar em combate à história única, o documentário Severinas, de Eliza Capai, destaca-se como uma poderosa leitura ligada aos sentidos empoderadores que a maternidade pode assumir. Através da produção, conhecemos trajetórias de mulheres como Elenilde Ribeiro, Luzia Alves Rocha e Norma Alves Duarte, sertanejas de Guaribas, no Piauí. Por meio do Bolsa Família, elas e suas famílias experimentam o direito à maternidade e à família libertando-se (processualmente) da miséria, da fome e do domínio masculino. Cada história é uma, mas as trajetórias também discutidas na pesquisa de Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani, convidam-nos a pensar em maternidades, regiões e experiências compartilhadas na diversidade uma vez que mais de 90% dos cartões BF estão em nome de mulheres-mães. Para quem se preocupa com o “bem de todos e a felicidade geral da nação”, vale olhar as recentes pesquisas que apontam que mais de 96% de estudantes de famílias beneficiadas pelo referido Programa Federal permanecem na escola.

Foto: Elenilde Ribeiro, 39 anos, beneficiária do Bolsa Família em Guaibas (Piauí).
Para muitas pessoas da tradicional família brasileira, que durante toda a vida estudaram e tornaram-se naturalmente “intelectuais”, tais dados podem ser considerados irrelevantes, vitimistas ou, no senso comum mais estapafúrdio, um estímulo à pobreza e à natalidade “descontrolada”. Por meu turno, acredito que a narrativa de indignação das elites contra o Bolsa Família liga-se também a disputas desiguais em torno dos sentidos e direitos circunscritos a ser mãe no Brasil. A libertação da miséria proporcionada pelo BF faz-nos pensar que conquistar tem a ver com lutas diárias – individuais e coletivas – de organizações, famílias e sujeitos comprometidos com transformações que somente um governo democrático, que dialoga com os movimentos sociais pode assegurar.
***
Ao comentar sobre transformações, precisamos também falar mais da necessidade de seguirmos lutando pelo respeito às diferentes concepções e formas de construir e experimentar a “família”. É necessário que façamos isso a partir de pontos de vista nos quais gêneros e sexualidades plurais e dissidentes sejam reconhecidos e respeitados.
A assinatura, em 28/04/2016, pela Presidenta Dilma do decreto que reconhece o direito ao uso do nome social e da identidade de gênero por pessoas trans em órgãos públicos federais, assim como o reconhecimento da família homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal, em 2013, fazem parte deste movimento democrático. Mas nem tudo são flores… Não dá para esquecer que vivemos num dos países que mais mata mulheres e homens que transgridem identidades de gêneros e sexualidades normativas. Ontem, ao entrar em um táxi lembrei das pessoas dissidentes com quem convivo e diariamente aprendo. Mulheres e homens trans que têm o direito à maternidade negado. Mulheres lésbicas que pagam altos preços ao desafiarem as associações entre maternidade e heterossexualidade. Pensando nos sentidos em disputa, vale ressaltar o movimento crescente em escolas, que substituem o Dia das Mães (e dos Pais) pelo Dia da Família. Trata-se de mobilização importante, no entanto, há ainda muito o que ser feito para que a maternidade não seja resumida a um acontecimento biológico e para que a representatividade homoparental não seja pensada como uma ficção, ilustrada por personagens que aparecem de tempos em tempos em telenovelas.
Frente a tantas urgências, como não se chocar com a propaganda de rádio do Democratas, veiculada no último dia 07 de maio? Uma doutrinação para que as pessoas de bem lutem contra a “ideia que o gênero se constrói durante a vida e não quando os bebês nascem”. Afinal, segundo a locutora, o DEM defende a certeza de que “a família é um projeto de Deus”. Em um país que lidera as estatísticas de crimes de transfobia, continuaremos lutando para que falas como essa sejam punidas e contestadas nas escolas e universidades. Manteremos nosso trabalho intelectual a serviço da diversidade de famílias e deuses que nos constituem como sujeitos. Como defendeu Mônica Lima, estaremos juntas “Pela desobediência” às histórias únicas. Um desobedecer praticado de forma instigante pelo movimento de ocupação das escolas estaduais do Rio de Janeiro, protagonizado por jovens negros e pobres, estudantes do Ensino Médio, que têm construído em seus próprios termos a escola em que acreditam.

Foto: Cartaz confeccionado pelxs estudantes do Colégio Estadual Visconde de Cairu no bairro do Méier. #ocupacairu, abr. 2016
***
Neste mês de maio, como mãe, desejo um Feliz Dia das Mães especial para as 13,9 milhões de beneficiárias do Bolsa Família. Mulheres brasileiras responsáveis por cuidar de meninas como Mirele Alves da Rocha Lima. Uma jovem, que do auge de sua sabedoria de 18 anos, nos ensina, no mês de aniversário da abolição da escravatura, sobre as lutas pela liberdade :
“Eu vejo a realidade da minha mãe e não quero seguir pelo mesmo caminho. Eu quero estudar para ter um futuro, para ser independente, para não ficar dependendo de um homem”.

































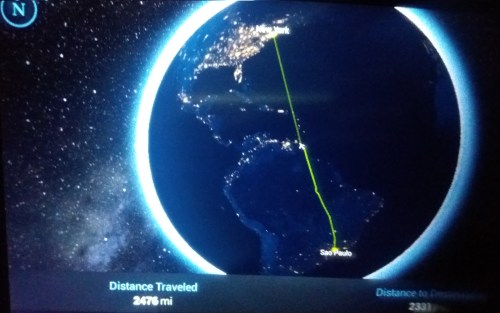











 (Foto: Reprodução/Facebook)
(Foto: Reprodução/Facebook) (Foto: Reprodução/Facebook)
(Foto: Reprodução/Facebook) (Foto: Reprodução/Facebook)
(Foto: Reprodução/Facebook)


 Passados Presentes
Passados Presentes